Opinião
 18 de janeiro de 2016
18 de janeiro de 2016- Visualizações: 9867
 2 comentário(s)
2 comentário(s)- +A
- -A
-
 compartilhar
compartilhar
Victor Frankenstein
 “Frankenstein, ou o Prometeu moderno”, publicado em 1818, da autora britânica Mary Shelley, é considerado o primeiro livro de ficção científica da história. Alguém já disse, parafraseando Alfred Whitehead, que todas as demais obras de ficção científica não passam de notas de rodapé ao livro de Mary Shelley. Pode ser que haja um exagero – perdoável – nesta afirmação.
“Frankenstein, ou o Prometeu moderno”, publicado em 1818, da autora britânica Mary Shelley, é considerado o primeiro livro de ficção científica da história. Alguém já disse, parafraseando Alfred Whitehead, que todas as demais obras de ficção científica não passam de notas de rodapé ao livro de Mary Shelley. Pode ser que haja um exagero – perdoável – nesta afirmação. A história tornou-se conhecida por demais: um cientista, por nome Victor Frankenstein, faz com que uma criatura construída a partir de pedaços de cadáveres ganhe vida. Só que a invenção perde o controle, e a criatura se volta contra o criador. A obra já foi adaptada várias vezes para a tela grande. O Frankenstein clássico do cinema é interpretado por Boris Karloff, em 1931. A imagem de Frankenstein que muita gente tem até hoje é de Karloff, a de um “homem” muito alto com a cabeça quadrada, presa ao pescoço por um parafuso. O muito bom Mel Brooks dirigiu em 1974 “O Jovem Frankenstein”, uma comédia deliciosa que esculhambou com a seriedade e a dramaticidade da obra original. O ótimo Gene Wilder é o Dr. Frederick Frankenstein, neto do Dr. Victor, que, a seu modo, tenta refazer a experiência do avô. Mas os críticos dizem que a adaptação mais fiel ao livro de Shelley é a de Kenneth Branagh, de 1993, com o próprio Branagh no papel do Dr. Frankenstein, e Robert De Niro como a criatura. O filme é denso e tenso, sinistro de tudo. A criatura vivida por De Niro é trágica, pensante, tem plena consciência de seus atos. Detalhe: popularmente, a criatura é conhecida como “Frankenstein”, mas no livro de Mary Shelley ela não tem nome, sendo chamada simplesmente de “demônio”, “criatura” ou “monstro”.
E eis que no final de 2015 surge mais uma adaptação da fantástica obra de Shelley: “Victor Frankenstein”, do diretor escocês Paul McGuigan, tendo o também escocês James McAvoy como o personagem título, e Daniel Redcliff (o Harry Potter) como Igor, seu assistente. McAvoy é tão belo quanto talentoso: fez um adorável Sr. Tumnus em “O Leão, a Feiticeira e o Guarda-roupa”, saiu-se muito bem como o Dr. Nicholas Garrigan em “O Último Rei da Escócia” e está brilhando como o jovem Professor Charles Xavier na franquia “X Men”. Ele trabalha maravilhosamente bem no filme de McGuigan. Talvez esta tenha sido a melhor intepretação de McAvoy até agora. O Dr. Frankenstein de McAvoy é o estereótipo perfeito do cientista louco, brilhante, genial, completamente pirado, todavia, sem ser ridículo.
O filme é contado na perspectiva de Igor, bem interpretado por Radcliff. A trama mostra o que aconteceu até a criação da criatura, que, em duas horas de filme, aparece por cinco, no máximo dez minutos. Todo mundo no filme é obcecado: Frankenstein, obcecado em criar vida a partir da morte; Igor, em ajudar seu benfeitor; o policial Turpin, agente da Scotland Yard, obcecado em deter o que entende ser um grande sacrilégio; o milionário Finnegan, obcecado em obter poder a partir da utilização da criação de Frankenstein. A única personagem com a cabeça no lugar, por assim dizer, é Lorelei, a bela trapezista do circo onde também trabalhava o infeliz corcunda sem nome, que será chamado de Igor pelo Dr. Frankenstein, que o sequestra, resgatando-o das condições humilhantes e subumanas às quais esteve sujeito durante toda sua vida.
A obra de Shelley tem sido extremamente influente na cultura pop. Não apenas pela quantidade de adaptações para o cinema que já teve. A mencionada adaptação para o cinema de 1931 transforma o livro de Shelley em uma história de terror, e é assim que desde então Frankenstein tem sido entendido. Todavia, creio que não é por aí que se deva fazer a leitura desta obra1, pois Frankenstein fala do sonho do homem de criar a humanidade à sua imagem e semelhança.
 É ficção científica, com perdão do trocadilho, em estado quimicamente puro, mas que provoca questionamentos éticos e teológicos sérios. Robôs e androides, de certa forma, são extensões ou aplicações do sonho de Frankenstein. No caso, não evidentemente com matéria orgânica, mas sintética. Mas em ambos os casos, é o sonho do homem criar um ser semelhante a si. No caso do androide, um velho sonho humano, o exemplar mais perfeito na ficção científica é o Tenente Data, o “androide sensciente” da Federação de Planetas Unidos, da tripulação da Enterprise em “Jornada nas Estrelas: A nova geração”. Outra variação do tema de Frankenstein está nos seres humanos geneticamente modificados. Neste caso, não seria criação de vida a partir da morte, como na história de Shelley, mas a tentativa de melhorar a vida já existente. O mais famoso exemplo da ficção de seres humanos geneticamente modificados, conhecido por todos os nerds e geeks do planeta, é Steve Rogers, o Capitão América da Marvel. Ele é mais rápido, mais ágil, mais forte que os seres humanos comuns.
É ficção científica, com perdão do trocadilho, em estado quimicamente puro, mas que provoca questionamentos éticos e teológicos sérios. Robôs e androides, de certa forma, são extensões ou aplicações do sonho de Frankenstein. No caso, não evidentemente com matéria orgânica, mas sintética. Mas em ambos os casos, é o sonho do homem criar um ser semelhante a si. No caso do androide, um velho sonho humano, o exemplar mais perfeito na ficção científica é o Tenente Data, o “androide sensciente” da Federação de Planetas Unidos, da tripulação da Enterprise em “Jornada nas Estrelas: A nova geração”. Outra variação do tema de Frankenstein está nos seres humanos geneticamente modificados. Neste caso, não seria criação de vida a partir da morte, como na história de Shelley, mas a tentativa de melhorar a vida já existente. O mais famoso exemplo da ficção de seres humanos geneticamente modificados, conhecido por todos os nerds e geeks do planeta, é Steve Rogers, o Capitão América da Marvel. Ele é mais rápido, mais ágil, mais forte que os seres humanos comuns. Um filme como “Victor Frankenstein” permite discussões bioéticas, filosóficas e teológicas complexas e cada vez mais pertinentes, haja vista o avanço da engenharia genética. Até que ponto é lícito avançar em pesquisas científicas que envolvem a vida? Esta pergunta, e outras dela derivadas, precisam ser encaradas, à medida que o tempo passa e o que parece ser “coisa de filme” se torna parte do dia a dia. Recentes reportagens já divulgaram que há pesquisas em andamento para modificar embriões humanos, o que poderá, em um futuro não muito distante, possibilitar o nascimento de bebês com características físicas escolhidas por seus pais. Ou, tal como o Capitão América, bebês que, crescidos, serão mais rápidos, mais fortes e mais ágeis que os demais. Não estamos falando de enredo de filme, inspirado em menor ou maior grau, pela ficção de Mary Shelley, mas sim de algo que tem tudo para acontecer, e em pouco tempo. Neste caso, estes “super humanos” poderiam participar de competições esportivas, disputando contra os humanos “normais”?
Há quem defenda manipulação genética com fins nobres, como por exemplo, evitar manifestação de alguns tipos de câncer ou de doenças degenerativas. Se (ou quando) isto acontecer, quem teria acesso a este tipo de medicina? Só quem puder pagar? Ainda mais importante: quem controlaria este tipo de pesquisa? E se algo desta natureza for usado com fins militares? Que resposta a ética teológica cristã poderia dar a perguntas como estas? Sei que para muitos estas questões poderão soar como distantes da realidade. Mas quanta coisa que parecia tão distante da realidade hoje faz parte do nosso dia a dia. Por isso os cristãos conscientes devem se preparar para responder perguntas complexas do campo da bioética, tais como as suscitadas por Victor Frankenstein.
Prometeu, o do mito grego, roubou o segredo do fogo dos deuses e o deu aos humanos, possibilitando assim o avanço da tecnologia e da própria civilização humana. O Prometeu moderno, Frankenstein, fala de roubar de Deus o segredo da própria vida, e dá-lo ao homem. A que preço? Com que consequências? E o que os cristãos dirão quando estas coisas começarem a acontecer (se é que já não começaram)?
Nota:
1. Para um estudo de manifestações da cultura pop estilo “terror” em perspectiva da teologia cristã, a obra definitiva é “Sacred Terror: Religion and Horror on the Silver Screen”, de Douglas Cowan (Waco: Baylor University Press, 2008).
Leia também
O ser humano é admirável. Deus é incomparável
O Teste da Fé: os cientistas também creem
Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos
É professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, onde coordena o GPRA – Grupo de Pesquisa Religião e Arte.
- Textos publicados: 82 [ver]
 18 de janeiro de 2016
18 de janeiro de 2016- Visualizações: 9867
 2 comentário(s)
2 comentário(s)- +A
- -A
-
 compartilhar
compartilhar
QUE BOM QUE VOCÊ CHEGOU ATÉ AQUI.
Ultimato quer falar com você.
A cada dia, mais de dez mil usuários navegam pelo Portal Ultimato. Leem e compartilham gratuitamente dezenas de blogs e hotsites, além do acervo digital da revista Ultimato, centenas de estudos bíblicos, devocionais diárias de autores como John Stott, Eugene Peterson, C. S. Lewis, entre outros, além de artigos, notícias e serviços que são atualizados diariamente nas diferentes plataformas e redes sociais.
PARA CONTINUAR, precisamos do seu apoio. Compartilhe conosco um cafezinho.

Leia mais em Opinião
Opinião do leitor
Para comentar é necessário estar logado no site. Clique aqui para fazer o login ou o seu cadastro.
Escreva um artigo em resposta
Para escrever uma resposta é necessário estar cadastrado no site. Clique aqui para fazer o login ou seu cadastro.
Ainda não há artigos publicados na seção "Palavra do leitor" em resposta a este texto.
- + vendidos
- + vistos

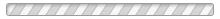


 (31)3611 8500
(31)3611 8500 (31)99437 0043
(31)99437 0043
 Os evangélicos nas ondas da rádio WEB
Os evangélicos nas ondas da rádio WEB Dinheiro é benção ou maldição? Você decide!
Dinheiro é benção ou maldição? Você decide! O WhatsApp e o (des)conforto do silêncio
O WhatsApp e o (des)conforto do silêncio






