Opinião
 19 de janeiro de 2018
19 de janeiro de 2018- Visualizações: 21891
 comente!
comente!- +A
- -A
-
 compartilhar
compartilhar
Cura gay: um caso de conflito entre fé e ciência?
Por Guilherme de Carvalho
 Quando menino me envolvi em uma bela farsa entre os primos. Lançando mão da inquestionável respeitabilidade como primo mais velho da distante Minas Gerais, segredei-lhes a chocante informação de que aquelas enormes torres de transmissão da Eletropaulo que cruzavam São José dos Campos – estávamos quase embaixo de uma – eram meus robôs. “Sim, meus robôs!” O primo Elton Júnior, hoje vereador na cidade, não cedeu imediatamente: “mas como assim? Eles não vieram com você!” Sem mover um cílio respondi com a convicção do homem sério: “mas é que eles estão aí, parados, porque não se movem sem meu comando.” Acho que poucas vezes fui tão convincente. Lembro-me apenas do seu salto, com incrédulos olhos esbugalhados, correndo a confirmar a informação com os pais. Tive uns breves momentos de riso solto até o primo voltar furioso. Custou a perdoar-me.
Quando menino me envolvi em uma bela farsa entre os primos. Lançando mão da inquestionável respeitabilidade como primo mais velho da distante Minas Gerais, segredei-lhes a chocante informação de que aquelas enormes torres de transmissão da Eletropaulo que cruzavam São José dos Campos – estávamos quase embaixo de uma – eram meus robôs. “Sim, meus robôs!” O primo Elton Júnior, hoje vereador na cidade, não cedeu imediatamente: “mas como assim? Eles não vieram com você!” Sem mover um cílio respondi com a convicção do homem sério: “mas é que eles estão aí, parados, porque não se movem sem meu comando.” Acho que poucas vezes fui tão convincente. Lembro-me apenas do seu salto, com incrédulos olhos esbugalhados, correndo a confirmar a informação com os pais. Tive uns breves momentos de riso solto até o primo voltar furioso. Custou a perdoar-me.
Uma farsa, talvez, não intencional.
Hoje, o mesmo primo milita contra várias outras farsas bem mais momentosas que meus robôs mineiros, como o corrente experimento de engenharia social associado ao discurso de “gênero”. Mas meu assunto hoje é uma farsa associada: a assim chamada “cura gay”. Uma farsa, sim – embora, talvez, não de todo intencional.
Não sendo o caso de desfiarmos aqui a história inteira do debate ao redor do tema, um histórico mínimo da despatologização da homossexualidade faz-se necessário. Em 1973, a American Psychological Association (APA) retirou a homossexualidade de seu catálogo de doenças (DSM-II), sendo seguida por várias sociedades nacionais e internacionais. A OMS (Organização Mundial de Saúde) deixou de tratar a orientação homossexual como transtorno em 17 de Maio de 1990, publicando a alteração no CID-10 em 1992. E, em 1999, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) estabeleceu em portaria (001/99) que “os psicólogos não colaborarão com eventos ou serviços que proponham tratamento ou cura da homossexualidade.” [1]
A desordem começa quando, em 2004, um deputado evangélico da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro introduz o projeto de lei 717/2003 propondo um programa de auxílio a pessoas que desejarem mudar sua orientação sexual de homossexualidade para heterossexualidade. O projeto não passou, mas o assunto não morreu. Como se sabe, alguns psicólogos influenciados por sua orientação religiosa continuaram oferecendo graus variados de auxílio a pessoas homossexuais interessadas em reverter essa orientação ou reelaborar seu significado. E não poucos sofreram pressões e policiamento dos pares em razão de sua alegada “confusão entre ciência e religião”.
Em uma manobra política relativamente eficiente, esse tipo de abordagem, condenada pelo CFP, recebeu a alcunha de “Cura Gay” – uma suposta tentativa retrógrada e preconceituosa de tratar a orientação homossexual como patológica e sujeita à correção.
E essa expressão foi usada extensivamente e de forma estratégica para criar um clamor nacional contra a decisão judicial liminar expedida pelo juiz federal Waldemar Cláudio de Carvalho, nos autos da Ação Popular n. 1011189-79.2017.4.01.3400, sobre os efeitos da momentosa Resolução 09/1999, do CFP.
A decisão do juiz, como se sabe, não reverte a resolução do CFP, mas pretende evitar uma interpretação intolerante da portaria, que segundo ele tornaria “vedado ao psicólogo realizar qualquer estudo ou atendimento relacionados à orientação ou reorientação sexual”. O juiz afirmou ainda que a Constituição “garante a liberdade científica bem como a plena realização da dignidade da pessoa humana, inclusive sob o aspecto da sexualidade”. Sua decisão garantiria aos psicólogos o direito de “estudar ou atender àqueles que voluntariamente venham em busca de orientação acerca de sua sexualidade, sem qualquer forma de censura, preconceito ou discriminação”.[2]
“Charlatanismo”, “fundamentalismo religioso”, “pseudoterapia” e nomes piores foram postos, mas o carro-chefe da grita foi “cura gay”. Não se pode negar honestamente que entre os proponentes da ação popular houvesse a alegação de que abusos sexuais poderiam ser uma das causas da homossexualidade em certos casos. Ainda assim, não houve nem por esses nem pelo juiz a sugestão de uma teoria abrangente da homossexualidade como patologia. O uso da expressão na grande mídia foi claramente um recurso de manipulação emocional visando acirrar tensões, produzir indignação e destruir as condições para qualquer diálogo racional sobre o assunto.
O que se pôde reconhecer nas inúmeras entrevistas encomendadas, tanto de especialistas quanto de representantes da elite cultural e do grande público, foi a “unânime” alegação de que qualquer questionamento da orientação homossexual da pessoa em busca de ajuda psicológica equivaleria a uma negação de sua dignidade, a alimentação de desnecessária confusão psíquica com potencial patogênico, e à oportunização de pseudoterapias de reversão – e, assim, de charlatanismo.
Homo sentimentalis
Nessas declarações se pode ouvir com nitidez que a inclinação homoafetiva, esse modo de objetivar o desejo sexual que está na base da autoidentificação homossexual, seria algo como um determinante definitivo e irrefutável da identidade da pessoa. Lugar comum: se o sujeito tem orientação homoafetiva, ele “é gay”, mesmo que esteja “no armário”. Ele é o que sente sexualmente; ele é a sua afetividade.
Desse modo, se não seguir sua inclinação afetiva e não lhe der plena expressão, enfrentando corajosamente o temor da reprovação social e das “regras morais ultrapassadas”, a pessoa será “inautêntica”, aquém de uma personalidade plena, e possivelmente – no imaginário da psicologia popular – doente pela “repressão” do desejo.
Ora, essa compreensão da identidade pessoal é seguramente falsa. A afetividade sexual é, sem dúvida, um dos principais constituintes da identidade pessoal; mas seu lugar e função não é fixo. Há tantos modos de organização do Self quanto há horizontes espirituais e mapas morais.
Em “As Fontes do Self: a construção da identidade moderna” (1989), um texto clássico e fundamental sobre o assunto, o filósofo Charles Taylor demonstrou que, dada a liberdade humana, o Self se constitui num espaço de valores, que se organiza em um mapa centrado em uma ou outra ideia sobre o que teria valor absoluto: um “hiperbem”[3]. Esse “hiperbem”, que pode variar de pessoa para pessoa, dá sentido à existência, ao estabelecer a localização do indivíduo e a direção que ele deve tomar em sua jornada espiritual. [4]
Mais ainda: dada a dispersão – num sentido analógico – dos valores dentro do espaço moral e a distância entre o indivíduo e o que ele considera um hiperbem, a significação da vida assume direção e duração, como uma jornada dentro desse espaço. Ela se torna em narrativa [5], na qual viver é tornar-se o que preciso ser. Assim, o hiperbem e a narrativa pessoal – que frequentemente assume formas pré-estabelecidas, chamadas por Anthony Giddens de “enredos” – constituem uma forma de organização do Self e conferem identidade.
Uma – mas não a única – forma de organização do Self é o que ele chama de “individuação expressiva”, ou “expressivismo”: a visão de que o acesso ao significado da vida se dá por meio do contato e da expressão do que está “dentro”, no “coração” da pessoa. E a mediação principal dessa vitalidade interior é o sentimento: quanto mais fiéis somos ao sentimento, mais autênticos nós somos e mais significado a nossa vida tem. [6]
O expressivismo, cujas primeiras sementes encontram-se já em J. J. Rousseau, torna-se macrotendência cultural no movimento romântico do século XIX e terá profundo impacto na mente contemporânea, especialmente por meio das artes e da psicologia moderna. Daí a função quase sacerdotal da atividade artística na imaginação secular moderna:
“Em nossa civilização, moldada pelas concepções expressivistas, ela passou a ocupar um lugar central em nossa vida espiritual, substituindo, em alguns aspectos, a religião. O maravilhamento que sentimos diante da originalidade e criatividade artísticas coloca a arte na fronteira do numinoso e reflete o lugar crucial que a criação/expressão ocupa em nossa compreensão da vida humana.”
“A compreensão tradicional da arte era de uma mimese. A arte imita a realidade… Mas, segundo a nova forma de entendimento, a arte não é imitação, mas expressão…” [7]
“Não … imitação, mas expressão”: é difícil enfatizar a importância dessa revolução. Mais do que mera mudança de prática artística, temos aqui o limiar de um giro civilizacional de grandes proporções, que costumo chamar de “introversão narcísica”. Taylor a chama de “centramento subjetivo”, ou “subjetivação: isto é, o centro das coisas cada vez mais no sujeito e de várias maneiras”. [8]
É importante notarmos que esse processo foi acompanhado simultaneamente de uma crítica da ideia de ordem cósmica e de bens morais objetivos – crítica ligada, em termos gerais, ao historicismo moderno, que reduz a vida cultural à atividade criativa livre do homem, dissolvendo qualquer ideia de uma “lei da natureza humana” ou de fins humanos superiores, independentes de seu bem-estar imediato. Essa dissolução utilitarista de uma ordem moral objetiva e “externa”, resultando em um “mundo achatado” [9], arruinou as condições de resistência ao subjetivismo.
E, assim, a racionalidade tornou-se instrumental, voltada para a manipulação técnica do mundo exterior para submetê-lo ao fim pragmático da afirmação e cultivo dos bens prosaicos e cotidianos. A valorização do cotidiano (o “temporal”, podemos dizer) se sobrepõe a fins mais elevados, como a perfeição moral, a verdade, a santidade, etc. A razão instrumental “captura” e arrasta o real para a órbita do Self, que por sua vez liga-se ao “real” por meio do “sentimento”. [10]
A plausibilidade desse novo mindset apenas aumentou quando a psicologia foi descoberta pelas corporações modernas a partir dos anos de 1920 como meio de elevar tanto a produtividade quanto o consumo, como mostrou de modo magistral a socióloga Israelense Eva Ilouz. A emergência do “capitalismo afetivo” dá imenso reforço civilizacional à emergência do que ela chama de “homo sentimentalis” [11]. E, para o indivíduo sentimental, é plausível reformar a moralidade tendo em vista o máximo bem-estar emocional. [12]
Philip Rieff, seminal intérprete de Freud, observou a constituição ao longo do século 20 de um tipo novo e singular de narrativa de identidade, um novo “paradigma de Self”, que ele chamou de “homem psicológico”. O homem psicológico – que com algum trabalho teórico pode ser correlacionado com o “homo sentimentalis” de Eva Illouz e com o “narciso acorrentado” de Gilles Lipovetsky – é um indivíduo avesso a desafios morais e absolutamente ocupado com seu próprio bem-estar, para o qual tradições, regras sociais e mesmo qualquer alegada ordem objetiva de bens seria um obstáculo. Ele é um revolucionário em conflito com quaisquer leis ou limites externos.
“O homem religioso nasceu para ser salvo; o homem psicológico nasce para ser agradado. A diferença foi estabelecida há muito, quando o ‘eu creio’, o clamor do asceta, perdeu a precedência para o ‘ele sente’, a desculpa do terapêutico. E se a terapêutica destina-se à vitória, certamente que o psicoterapeuta será o seu guia espiritual secular.” [13]
Mas, como Rieff observou com clareza, vários modelos antropológicos já emergiram na “psicoistória” ocidental. O homem psicológico certamente se sentirá “doente” se não se ocupar do trabalho interior de se sentir bem. Mas isso não vale do mesmo modo para o “homo economicus”, ou para o “homem religioso”. Certamente não valeria para Sócrates. [14]
O que significa o desejo?
Com muita perspicácia Charles Taylor notou que a autoexpressão emocional ou sexual-afetiva pode ser um hiperbem ou até mesmo um centro organizador da identidade de uma pessoa e não ser assim para outra:
“(…) posso ver a realização expressiva como algo incomparavelmente mais valioso que as coisas corriqueiras que todos desejamos na vida; mas vejo amar a Deus ou buscar a justiça como algo, em si mesmo, incomparavelmente superior a essa realização. Uma distinção qualitativa de ordem superior segmenta os bens que são, eles próprios, definidos em distinções de ordem inferior.” [15]
O ponto é terrivelmente importante. Uma visão divergente sobre hiperbens pode não mudar os desejos sexuais de alguém, mas certamente muda o seu significado. Pois a identidade tem sua sede no espaço moral, no campo da liberdade. Dependendo do meu mapa moral e de minha percepção de destino, significo diferentemente a minha existência e penso diferentemente sobre onde estou. Isso pode até mesmo afetar meus sentimentos, em certos casos. Posso abraçar uma mulher: o que sentirei certamente vai variar se sei que ela está apaixonada por mim, ou se é alguém que se envolveu num complô para minha demissão da empresa.
Imaginemos outra situação: eu e meu primo nos encontramos de repente numa estrada à beira do mar. Ele tem uma bicicleta e eu tenho um barco. E então recebemos um mapa, segundo o qual o nosso destino – que aqui faz as vezes de hiperbem – encontra-se no alto da montanha próxima.
Imediatamente sinto-me em desvantagem. Com a bicicleta ele poderá chegar rapidamente ao topo. Mas o que farei com um barco? É claro que posso recusar o mapa e acreditar no evangelho da autoexpressão: “o que importa é viver o que sou”. Mas navegar não me levará ao topo da montanha. A questão não reside nos desejos, mas nos destinos.
A “farsa”
O que significa um desejo, uma inclinação homoafetiva ou heteroafetiva, ou bissexual? Em si mesmos, absolutamente nada. Eles significarão algo dentro de um mapa de sentido. E o que pode o CFP dizer a respeito disso? Absolutamente nada. Afinal, o artigo 2º b do Código de Ética “veda o psicólogo de induzir seu paciente a convicções religiosas, assim como proíbe à indução de convicções políticas, filosóficas, morais e ideológicas e de orientação sexual”. [16]
A não ser que a organização pretenda oferecer excathedra um mapa de sentido para a existência, contrariando suas próprias resoluções.
E exatamente aqui encontra-se a “farsa” (entre aspas, se lhe concedemos não ser mais que um ponto cego ideológico): no silêncio sobre a pertinência da ajuda psicológica ao indivíduo que deseja ressignificar sua inclinação afetiva, a partir de qualquer mapa moral distinto do expressivismo romântico, e na associação desse silêncio à vocal condenação da “cura gay”, o CFP ou alguns que pensam representá-lo, promovem e reforçam exatamente esse modo expressivista de autoconstituição, segundo o qual a pessoa não pode dizer não a si mesma, por razões superiores.
Na prática, a existência, na sociedade, de outros modos de constituição da identidade, diferentes do Homo Sentimentalis, são tratados como se não existissem, e a mera presença de desejos e inclinações afetivas é elevada à posição de núcleo duro e fundamento definitivo da identidade da pessoa. E, assim, os psicólogos se tornam os sacerdotes de uma espécie de religião oficial da sociedade hiperconsumista.
Ciência ou religião?
Não é o caso, certamente, de ignorarmos o uso da problemática expressão “reorientação sexual” no veredito do juiz Waldemar de Carvalho. É verdade que ela pode ser interpretada no sentido técnico de uma autorização à aplicação de terapias de reversão da orientação sexual, o que, como se sabe, não tem suporte científico e presta-se à ampliação do sofrimento de muitas pessoas. Em pronunciamento especial em 06 de outubro deste ano, o CPPC (Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos) sabiamente reclamou a responsabilidade técnica e científica:
“Dentro dos limites da ética profissional, trabalhando exclusivamente com metodologias consagradas e referendadas pelos órgãos reguladores da profissão, desconhecemos procedimentos de reorientação ou reversão de orientação sexual, garantidos os plenos direitos a escuta. É claro que em nome da demanda ou da queixa do paciente, o psicólogo não pode oferecer serviços que não tenham respaldo científico ou atentem contra a dignidade humana.” [17]
Sim, sabemos que essa não é toda a história; pois o fato é que muitas pessoas experimentam mudanças inesperadas em sua orientação sexual como fruto de processos espontâneos, cujos mecanismos não foram adequadamente explanados. Embora não haja técnicas capazes de produzir tais efeitos, não se pode plausivelmente bloquear a investigação do assunto em nome do dogma moral expressivista.
Ainda assim, é preciso admitir que a linguagem do juiz é inadequada. Em primeiro lugar, porque, sem maiores qualificações deixa realmente aberta a porta para a reintrodução de pseudoterapias de reversão, ainda que essa não seja a sua intenção.
Mas, em segundo lugar – e isso é igualmente ou até mais importante –, é inadequada porque deixa nas sombras a razão principal porque um psicólogo deve ser autorizado a fornecer apoio psicológico a uma pessoa que deseja abandonar sua identidade “gay” ou “trans”: é que essas identidades são, em nossa cultura, muito mais do que seus substratos afetivos, e é um erro manifesto subsumir a identidade ao desejo, vedando a mudança de um por causa do outro. O desejo sexual não estabelece o destino de ninguém.
Mudanças espirituais, ou existenciais, ou morais, como se queira, geram tensões e dilemas emocionais, e o psicólogo deve respeitar não apenas a inclinação afetiva, mas também a adesão do paciente a certo mapa moral e certo hiperbem, e deve auxiliá-lo na sua busca de integração pessoal, considerando tanto suas realidades afetivas quanto o seu mapa moral original. Expressões mais adequadas do que “reorientação sexual” seriam: “ressignificação de sua sexualidade” ou “reorientação identitária”. Esse tipo de ajuda psicológica é tão legítimo quanto o auxílio a uma pessoa em crise vocacional.
Mas por que razão a ressignificação dos desejos e sua requalificação é recusada com tanta veemência, mesmo quando se admite calmamente que o próprio corpo pode ser radicalmente modificado em nome dos sentimentos, dada a sua “plasticidade”, como se reivindica entre defensores do movimento “trans”? A razão é que moralidade e corporeidade são valores menos sólidos para o Homo Sentimentalis do que o próprio sentimento, que se tornou uma espécie de amuleto de segurança existencial:
“… o portador de um afeto é reconhecido como o árbitro supremo de seus próprios sentimentos. ‘Sinto que…’ implica não só que a pessoa tem o direito de se sentir dessa maneira, mas também que esse direito a habilita a ser aceita e reconhecida, simplesmente em virtude de ela se sentir de certo modo.” [18]
Essa fixidez mostra-se, não tanto um resultado científico, quanto uma espécie de doutrina moral e política, um problema de reconhecimento que traz uma dimensão exterior pública e uma dimensão interna existencial.
A questão de fundo deve, então, estar bem clara: o julgamento dos mapas morais dos pacientes encontra-se além do escopo das ciências psicológicas, mas ainda assim, eles não podem ser ignorados na prática psicológica.
Seria um caso de conflito de ciência e religião? Sim; mas a estrutura desse conflito não é trivial. Não se trata de um conflito do “obscurantismo religioso” contra “as luzes da ciência”. Pois, no caso, vemos ambos os grupos no escuro. Se não está claro para muitos setores religiosos que a fundamentação científica propriamente psico-lógica é indispensável para a prática profissional que tem seu foco no psiquismo, não está de modo algum claro que o CFP reconheça os limites do discurso psicológico e a jurisdição da religião na organização dos mapas morais e dos hiperbens humanos.
A verdadeira base ou estrutura por trás desse conflito reside, no entanto, para além das questões científicas ou filosóficas. O problema tem sua origem na ascensão do “Campo Afetivo”, como foi descrito por Eva Illouz: um campo de poder e de valores simbólicos relacionados às competências e capitais emocionais, e que disputa com a religião o poder de organizar a vida emocional dos indivíduos, mormente porque a religião continua mostrando competências e grande concentração de capitais emocionais. Desde que o campo afetivo se tornou uma espécie de “igreja” do expressivismo moral, sob o alegado conflito de “ciência e fé” temos, na verdade, um conflito de campos de poder social com suas respectivas moralidades.
Homo respondens
Enfim, para uma multidão de crentes e incréus, essa espiritualidade sentimental não faz nenhum sentido. Consideremos, aqui, os cristãos brasileiros, sejam católicos ou evangélicos: os que não são nominais sabem que o caminho da identidade não é a “autoexpressão sentimental”, mas a “imitação moral”.
A razão porque os tais continuarão ignorando os psicólogos que os ignoram é que para eles há uma realidade externa cujo significado não é meramente imposto pelo indivíduo. O significado está “lá fora”, numa ordem de bens e de finalidades, que se impõe à mente.
Esses crentes e não poucos incréus acreditam na existência de uma ordem moral objetiva, uma ordem de bens alheia a seus estados subjetivos e à sua vida afetiva. Para esses indivíduos com escrúpulos conservadores e não subjetivistas, há uma realidade externa cujo significado não é meramente imposto pelo indivíduo, como se projetado numa tela branca. O significado está lá, uma ordem de bens e de finalidades se impõe. Eles acreditam no que C. S. Lewis chama, em seu clássico “A Abolição do Homem”, de “Lei da Natureza Humana”.
Para os tais, o mundo real nos interpela e nos responsabiliza. Tudo o que podemos fazer é responder. Temos o privilégio e o dever de responder. Assim a identidade não surge de uma alegada autoexpressão, de uma autenticidade sentimental, mas de uma reciprocidade na qual a natureza, a sociedade, a história, o outro, e – por que não? – Deus já estão lá e participam da minha autodefinição. Ao invés de buracos negros subjetivos, somos planetas, relativos entre si e iluminados por um Sol.
Aos que clamam “biologia não é destino!” em nome da liberdade, segue-se como imperativo de coerência afirmar que afetividade também não é destino. Ainda que não possa ser ignorada, não é a última palavra sobre a jornada e a identidade de ninguém.
Guilherme Vilela Ribeiro de Carvalho é teólogo, mestre em Ciências da Religião e diretor de L’Abri Fellowship Brasil. Pastor da Igreja Esperança em Belo Horizonte, é também organizador e autor de Cosmovisão Cristã e Transformação e membro fundador da Associação Brasileira Cristãos na Ciência (ABC2).
Nota: Conteúdo publicado originalmente em Cristãos na Ciência.
Referências Bibliográficas
[1] Para um breve, mas útil histórico do processo, cf. Paolielo, Gilda, “A Despatologização da Homossexualidade.” Em: Quinet A. e Jorge, M.A.C., As Homossexualidades na Psicanálise: na História de sua Despatologização. São Paulo: Segmento Farma Editores, 2013, p. 29-46.
[2] A íntegra da ata da audiência pode ser encontrada no endereço: https://d2f17dr7ourrh3.cloudfront.net/wp-content/uploads/2017/09/ATA-DE-AUDI%C3%8ANCIA.pdf
[3] “Vou denominar os bens de ordem superior desse tipo de “hiperbens”, isto é, bens que não apenas são incomparavelmente mais importantes do que os outros como proporcionam uma perspectiva a partir da qual esses outros devem ser pesados, julgados e decididos.” Em: Taylor, Charles, As Fontes do Self: a construção da identidade moderna. São Paulo: Loyola, 2013 (1989), p. 90.
[4] “O que isso traz à luz é a ligação essencial entre identidade e uma espécie de orientação. Saber que se é equivale a estar orientado no espaço moral, um espaço em que surgem questões acerca do que é bom ou ruim, do que vale e do que não vale a pena fazer, do que tem sentido e importância para o indivíduo e do que é trivial e secundário.” Taylor, “As Fontes do Self”, p. 44.
“Só somos um Self na medida em que nos movemos em certo espaço de indagações, em que buscamos e encontramos uma orientação para o bem.” Taylor, “As Fontes do Self”, p. 52.
[5] Taylor, “A Fontes do Self”, p. 70.
[6] “Essa noção de uma voz ou impulso interior, a ideia de que encontramos a verdade dentro de nós e, em particular, em nossos sentimentos – esses foram os conceitos cruciais que justificavam a rebelião romântica em suas várias formas… É por isso que Rousseau é tão frequentemente o seu ponto de partida”. Taylor, “As Fontes do Self”, p. 472.
“…depois que se admite que o acesso ao significado das coisas é interior, que ele só é apreendido de forma adequada interiormente, é possível soltar sem problemas suas amarras das formulações ortodoxas” Taylor, “As Fontes do Self”, p.476.
[7] Taylor, “As Fontes do Self”, p. 482-3.
[8] Taylor, Charles, A Ética da autenticidade. São Paulo: É Realizações, 2017 (2010), p.85.
[9] Taylor, “A Ética”, p. 75.
[10] Taylor, “A Ética”, p. 65-6.
[11] Illouz, Eva, O Amor nos Tempos do Capitalismo. Rio de Janeiro: Zahar, 2011, p. 11-12.
[12] “… nossos sentimentos são partes integrantes de nossa definição mais original e primordial do bem.”
“Se o bem viver é definido em parte segundo certos sentimentos, então ele também pode soltar suas amarras e afastar-se dos códigos éticos tradicionais”. Taylor, “As Fontes do Self”, p. 479
[13] Rieff, Philip. The Triumph of the Therapeutic: uses of Faith after Freud. Wilmington: ISI Books, 2006 (1966): p. 19.
[14] Uma breve síntese da psicoistória Rieffiana encontra-se em: Zondervan, Antonius A. W., Sociology and the Sacred: An introduction to Philip Rieff’s Theory of Culture. Toronto: University of Toronto Press, 2005, p. 43-6.
[15] Taylor, “As Fontes do Self”, p. 90.
[16] Os trechos relevantes podem ser lidos no endereço: http://advivo.com.br/node/808210
[17] Cf. http://www.cppc.org.br/pronunciamento-do-cppc-resolucao-cfp-e-liminar/
[18] Illouz, “O Amor nos tempos do Capitalismo”, p. 59.
 Quando menino me envolvi em uma bela farsa entre os primos. Lançando mão da inquestionável respeitabilidade como primo mais velho da distante Minas Gerais, segredei-lhes a chocante informação de que aquelas enormes torres de transmissão da Eletropaulo que cruzavam São José dos Campos – estávamos quase embaixo de uma – eram meus robôs. “Sim, meus robôs!” O primo Elton Júnior, hoje vereador na cidade, não cedeu imediatamente: “mas como assim? Eles não vieram com você!” Sem mover um cílio respondi com a convicção do homem sério: “mas é que eles estão aí, parados, porque não se movem sem meu comando.” Acho que poucas vezes fui tão convincente. Lembro-me apenas do seu salto, com incrédulos olhos esbugalhados, correndo a confirmar a informação com os pais. Tive uns breves momentos de riso solto até o primo voltar furioso. Custou a perdoar-me.
Quando menino me envolvi em uma bela farsa entre os primos. Lançando mão da inquestionável respeitabilidade como primo mais velho da distante Minas Gerais, segredei-lhes a chocante informação de que aquelas enormes torres de transmissão da Eletropaulo que cruzavam São José dos Campos – estávamos quase embaixo de uma – eram meus robôs. “Sim, meus robôs!” O primo Elton Júnior, hoje vereador na cidade, não cedeu imediatamente: “mas como assim? Eles não vieram com você!” Sem mover um cílio respondi com a convicção do homem sério: “mas é que eles estão aí, parados, porque não se movem sem meu comando.” Acho que poucas vezes fui tão convincente. Lembro-me apenas do seu salto, com incrédulos olhos esbugalhados, correndo a confirmar a informação com os pais. Tive uns breves momentos de riso solto até o primo voltar furioso. Custou a perdoar-me.Uma farsa, talvez, não intencional.
Hoje, o mesmo primo milita contra várias outras farsas bem mais momentosas que meus robôs mineiros, como o corrente experimento de engenharia social associado ao discurso de “gênero”. Mas meu assunto hoje é uma farsa associada: a assim chamada “cura gay”. Uma farsa, sim – embora, talvez, não de todo intencional.
Não sendo o caso de desfiarmos aqui a história inteira do debate ao redor do tema, um histórico mínimo da despatologização da homossexualidade faz-se necessário. Em 1973, a American Psychological Association (APA) retirou a homossexualidade de seu catálogo de doenças (DSM-II), sendo seguida por várias sociedades nacionais e internacionais. A OMS (Organização Mundial de Saúde) deixou de tratar a orientação homossexual como transtorno em 17 de Maio de 1990, publicando a alteração no CID-10 em 1992. E, em 1999, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) estabeleceu em portaria (001/99) que “os psicólogos não colaborarão com eventos ou serviços que proponham tratamento ou cura da homossexualidade.” [1]
A desordem começa quando, em 2004, um deputado evangélico da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro introduz o projeto de lei 717/2003 propondo um programa de auxílio a pessoas que desejarem mudar sua orientação sexual de homossexualidade para heterossexualidade. O projeto não passou, mas o assunto não morreu. Como se sabe, alguns psicólogos influenciados por sua orientação religiosa continuaram oferecendo graus variados de auxílio a pessoas homossexuais interessadas em reverter essa orientação ou reelaborar seu significado. E não poucos sofreram pressões e policiamento dos pares em razão de sua alegada “confusão entre ciência e religião”.
Em uma manobra política relativamente eficiente, esse tipo de abordagem, condenada pelo CFP, recebeu a alcunha de “Cura Gay” – uma suposta tentativa retrógrada e preconceituosa de tratar a orientação homossexual como patológica e sujeita à correção.
E essa expressão foi usada extensivamente e de forma estratégica para criar um clamor nacional contra a decisão judicial liminar expedida pelo juiz federal Waldemar Cláudio de Carvalho, nos autos da Ação Popular n. 1011189-79.2017.4.01.3400, sobre os efeitos da momentosa Resolução 09/1999, do CFP.
A decisão do juiz, como se sabe, não reverte a resolução do CFP, mas pretende evitar uma interpretação intolerante da portaria, que segundo ele tornaria “vedado ao psicólogo realizar qualquer estudo ou atendimento relacionados à orientação ou reorientação sexual”. O juiz afirmou ainda que a Constituição “garante a liberdade científica bem como a plena realização da dignidade da pessoa humana, inclusive sob o aspecto da sexualidade”. Sua decisão garantiria aos psicólogos o direito de “estudar ou atender àqueles que voluntariamente venham em busca de orientação acerca de sua sexualidade, sem qualquer forma de censura, preconceito ou discriminação”.[2]
“Charlatanismo”, “fundamentalismo religioso”, “pseudoterapia” e nomes piores foram postos, mas o carro-chefe da grita foi “cura gay”. Não se pode negar honestamente que entre os proponentes da ação popular houvesse a alegação de que abusos sexuais poderiam ser uma das causas da homossexualidade em certos casos. Ainda assim, não houve nem por esses nem pelo juiz a sugestão de uma teoria abrangente da homossexualidade como patologia. O uso da expressão na grande mídia foi claramente um recurso de manipulação emocional visando acirrar tensões, produzir indignação e destruir as condições para qualquer diálogo racional sobre o assunto.
O que se pôde reconhecer nas inúmeras entrevistas encomendadas, tanto de especialistas quanto de representantes da elite cultural e do grande público, foi a “unânime” alegação de que qualquer questionamento da orientação homossexual da pessoa em busca de ajuda psicológica equivaleria a uma negação de sua dignidade, a alimentação de desnecessária confusão psíquica com potencial patogênico, e à oportunização de pseudoterapias de reversão – e, assim, de charlatanismo.
Homo sentimentalis
Nessas declarações se pode ouvir com nitidez que a inclinação homoafetiva, esse modo de objetivar o desejo sexual que está na base da autoidentificação homossexual, seria algo como um determinante definitivo e irrefutável da identidade da pessoa. Lugar comum: se o sujeito tem orientação homoafetiva, ele “é gay”, mesmo que esteja “no armário”. Ele é o que sente sexualmente; ele é a sua afetividade.
Desse modo, se não seguir sua inclinação afetiva e não lhe der plena expressão, enfrentando corajosamente o temor da reprovação social e das “regras morais ultrapassadas”, a pessoa será “inautêntica”, aquém de uma personalidade plena, e possivelmente – no imaginário da psicologia popular – doente pela “repressão” do desejo.
Ora, essa compreensão da identidade pessoal é seguramente falsa. A afetividade sexual é, sem dúvida, um dos principais constituintes da identidade pessoal; mas seu lugar e função não é fixo. Há tantos modos de organização do Self quanto há horizontes espirituais e mapas morais.
Em “As Fontes do Self: a construção da identidade moderna” (1989), um texto clássico e fundamental sobre o assunto, o filósofo Charles Taylor demonstrou que, dada a liberdade humana, o Self se constitui num espaço de valores, que se organiza em um mapa centrado em uma ou outra ideia sobre o que teria valor absoluto: um “hiperbem”[3]. Esse “hiperbem”, que pode variar de pessoa para pessoa, dá sentido à existência, ao estabelecer a localização do indivíduo e a direção que ele deve tomar em sua jornada espiritual. [4]
Mais ainda: dada a dispersão – num sentido analógico – dos valores dentro do espaço moral e a distância entre o indivíduo e o que ele considera um hiperbem, a significação da vida assume direção e duração, como uma jornada dentro desse espaço. Ela se torna em narrativa [5], na qual viver é tornar-se o que preciso ser. Assim, o hiperbem e a narrativa pessoal – que frequentemente assume formas pré-estabelecidas, chamadas por Anthony Giddens de “enredos” – constituem uma forma de organização do Self e conferem identidade.
Uma – mas não a única – forma de organização do Self é o que ele chama de “individuação expressiva”, ou “expressivismo”: a visão de que o acesso ao significado da vida se dá por meio do contato e da expressão do que está “dentro”, no “coração” da pessoa. E a mediação principal dessa vitalidade interior é o sentimento: quanto mais fiéis somos ao sentimento, mais autênticos nós somos e mais significado a nossa vida tem. [6]
O expressivismo, cujas primeiras sementes encontram-se já em J. J. Rousseau, torna-se macrotendência cultural no movimento romântico do século XIX e terá profundo impacto na mente contemporânea, especialmente por meio das artes e da psicologia moderna. Daí a função quase sacerdotal da atividade artística na imaginação secular moderna:
“Em nossa civilização, moldada pelas concepções expressivistas, ela passou a ocupar um lugar central em nossa vida espiritual, substituindo, em alguns aspectos, a religião. O maravilhamento que sentimos diante da originalidade e criatividade artísticas coloca a arte na fronteira do numinoso e reflete o lugar crucial que a criação/expressão ocupa em nossa compreensão da vida humana.”
“A compreensão tradicional da arte era de uma mimese. A arte imita a realidade… Mas, segundo a nova forma de entendimento, a arte não é imitação, mas expressão…” [7]
“Não … imitação, mas expressão”: é difícil enfatizar a importância dessa revolução. Mais do que mera mudança de prática artística, temos aqui o limiar de um giro civilizacional de grandes proporções, que costumo chamar de “introversão narcísica”. Taylor a chama de “centramento subjetivo”, ou “subjetivação: isto é, o centro das coisas cada vez mais no sujeito e de várias maneiras”. [8]
É importante notarmos que esse processo foi acompanhado simultaneamente de uma crítica da ideia de ordem cósmica e de bens morais objetivos – crítica ligada, em termos gerais, ao historicismo moderno, que reduz a vida cultural à atividade criativa livre do homem, dissolvendo qualquer ideia de uma “lei da natureza humana” ou de fins humanos superiores, independentes de seu bem-estar imediato. Essa dissolução utilitarista de uma ordem moral objetiva e “externa”, resultando em um “mundo achatado” [9], arruinou as condições de resistência ao subjetivismo.
E, assim, a racionalidade tornou-se instrumental, voltada para a manipulação técnica do mundo exterior para submetê-lo ao fim pragmático da afirmação e cultivo dos bens prosaicos e cotidianos. A valorização do cotidiano (o “temporal”, podemos dizer) se sobrepõe a fins mais elevados, como a perfeição moral, a verdade, a santidade, etc. A razão instrumental “captura” e arrasta o real para a órbita do Self, que por sua vez liga-se ao “real” por meio do “sentimento”. [10]
A plausibilidade desse novo mindset apenas aumentou quando a psicologia foi descoberta pelas corporações modernas a partir dos anos de 1920 como meio de elevar tanto a produtividade quanto o consumo, como mostrou de modo magistral a socióloga Israelense Eva Ilouz. A emergência do “capitalismo afetivo” dá imenso reforço civilizacional à emergência do que ela chama de “homo sentimentalis” [11]. E, para o indivíduo sentimental, é plausível reformar a moralidade tendo em vista o máximo bem-estar emocional. [12]
Philip Rieff, seminal intérprete de Freud, observou a constituição ao longo do século 20 de um tipo novo e singular de narrativa de identidade, um novo “paradigma de Self”, que ele chamou de “homem psicológico”. O homem psicológico – que com algum trabalho teórico pode ser correlacionado com o “homo sentimentalis” de Eva Illouz e com o “narciso acorrentado” de Gilles Lipovetsky – é um indivíduo avesso a desafios morais e absolutamente ocupado com seu próprio bem-estar, para o qual tradições, regras sociais e mesmo qualquer alegada ordem objetiva de bens seria um obstáculo. Ele é um revolucionário em conflito com quaisquer leis ou limites externos.
“O homem religioso nasceu para ser salvo; o homem psicológico nasce para ser agradado. A diferença foi estabelecida há muito, quando o ‘eu creio’, o clamor do asceta, perdeu a precedência para o ‘ele sente’, a desculpa do terapêutico. E se a terapêutica destina-se à vitória, certamente que o psicoterapeuta será o seu guia espiritual secular.” [13]
Mas, como Rieff observou com clareza, vários modelos antropológicos já emergiram na “psicoistória” ocidental. O homem psicológico certamente se sentirá “doente” se não se ocupar do trabalho interior de se sentir bem. Mas isso não vale do mesmo modo para o “homo economicus”, ou para o “homem religioso”. Certamente não valeria para Sócrates. [14]
O que significa o desejo?
Com muita perspicácia Charles Taylor notou que a autoexpressão emocional ou sexual-afetiva pode ser um hiperbem ou até mesmo um centro organizador da identidade de uma pessoa e não ser assim para outra:
“(…) posso ver a realização expressiva como algo incomparavelmente mais valioso que as coisas corriqueiras que todos desejamos na vida; mas vejo amar a Deus ou buscar a justiça como algo, em si mesmo, incomparavelmente superior a essa realização. Uma distinção qualitativa de ordem superior segmenta os bens que são, eles próprios, definidos em distinções de ordem inferior.” [15]
O ponto é terrivelmente importante. Uma visão divergente sobre hiperbens pode não mudar os desejos sexuais de alguém, mas certamente muda o seu significado. Pois a identidade tem sua sede no espaço moral, no campo da liberdade. Dependendo do meu mapa moral e de minha percepção de destino, significo diferentemente a minha existência e penso diferentemente sobre onde estou. Isso pode até mesmo afetar meus sentimentos, em certos casos. Posso abraçar uma mulher: o que sentirei certamente vai variar se sei que ela está apaixonada por mim, ou se é alguém que se envolveu num complô para minha demissão da empresa.
Imaginemos outra situação: eu e meu primo nos encontramos de repente numa estrada à beira do mar. Ele tem uma bicicleta e eu tenho um barco. E então recebemos um mapa, segundo o qual o nosso destino – que aqui faz as vezes de hiperbem – encontra-se no alto da montanha próxima.
Imediatamente sinto-me em desvantagem. Com a bicicleta ele poderá chegar rapidamente ao topo. Mas o que farei com um barco? É claro que posso recusar o mapa e acreditar no evangelho da autoexpressão: “o que importa é viver o que sou”. Mas navegar não me levará ao topo da montanha. A questão não reside nos desejos, mas nos destinos.
A “farsa”
O que significa um desejo, uma inclinação homoafetiva ou heteroafetiva, ou bissexual? Em si mesmos, absolutamente nada. Eles significarão algo dentro de um mapa de sentido. E o que pode o CFP dizer a respeito disso? Absolutamente nada. Afinal, o artigo 2º b do Código de Ética “veda o psicólogo de induzir seu paciente a convicções religiosas, assim como proíbe à indução de convicções políticas, filosóficas, morais e ideológicas e de orientação sexual”. [16]
A não ser que a organização pretenda oferecer excathedra um mapa de sentido para a existência, contrariando suas próprias resoluções.
E exatamente aqui encontra-se a “farsa” (entre aspas, se lhe concedemos não ser mais que um ponto cego ideológico): no silêncio sobre a pertinência da ajuda psicológica ao indivíduo que deseja ressignificar sua inclinação afetiva, a partir de qualquer mapa moral distinto do expressivismo romântico, e na associação desse silêncio à vocal condenação da “cura gay”, o CFP ou alguns que pensam representá-lo, promovem e reforçam exatamente esse modo expressivista de autoconstituição, segundo o qual a pessoa não pode dizer não a si mesma, por razões superiores.
Na prática, a existência, na sociedade, de outros modos de constituição da identidade, diferentes do Homo Sentimentalis, são tratados como se não existissem, e a mera presença de desejos e inclinações afetivas é elevada à posição de núcleo duro e fundamento definitivo da identidade da pessoa. E, assim, os psicólogos se tornam os sacerdotes de uma espécie de religião oficial da sociedade hiperconsumista.
Ciência ou religião?
Não é o caso, certamente, de ignorarmos o uso da problemática expressão “reorientação sexual” no veredito do juiz Waldemar de Carvalho. É verdade que ela pode ser interpretada no sentido técnico de uma autorização à aplicação de terapias de reversão da orientação sexual, o que, como se sabe, não tem suporte científico e presta-se à ampliação do sofrimento de muitas pessoas. Em pronunciamento especial em 06 de outubro deste ano, o CPPC (Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos) sabiamente reclamou a responsabilidade técnica e científica:
“Dentro dos limites da ética profissional, trabalhando exclusivamente com metodologias consagradas e referendadas pelos órgãos reguladores da profissão, desconhecemos procedimentos de reorientação ou reversão de orientação sexual, garantidos os plenos direitos a escuta. É claro que em nome da demanda ou da queixa do paciente, o psicólogo não pode oferecer serviços que não tenham respaldo científico ou atentem contra a dignidade humana.” [17]
Sim, sabemos que essa não é toda a história; pois o fato é que muitas pessoas experimentam mudanças inesperadas em sua orientação sexual como fruto de processos espontâneos, cujos mecanismos não foram adequadamente explanados. Embora não haja técnicas capazes de produzir tais efeitos, não se pode plausivelmente bloquear a investigação do assunto em nome do dogma moral expressivista.
Ainda assim, é preciso admitir que a linguagem do juiz é inadequada. Em primeiro lugar, porque, sem maiores qualificações deixa realmente aberta a porta para a reintrodução de pseudoterapias de reversão, ainda que essa não seja a sua intenção.
Mas, em segundo lugar – e isso é igualmente ou até mais importante –, é inadequada porque deixa nas sombras a razão principal porque um psicólogo deve ser autorizado a fornecer apoio psicológico a uma pessoa que deseja abandonar sua identidade “gay” ou “trans”: é que essas identidades são, em nossa cultura, muito mais do que seus substratos afetivos, e é um erro manifesto subsumir a identidade ao desejo, vedando a mudança de um por causa do outro. O desejo sexual não estabelece o destino de ninguém.
Mudanças espirituais, ou existenciais, ou morais, como se queira, geram tensões e dilemas emocionais, e o psicólogo deve respeitar não apenas a inclinação afetiva, mas também a adesão do paciente a certo mapa moral e certo hiperbem, e deve auxiliá-lo na sua busca de integração pessoal, considerando tanto suas realidades afetivas quanto o seu mapa moral original. Expressões mais adequadas do que “reorientação sexual” seriam: “ressignificação de sua sexualidade” ou “reorientação identitária”. Esse tipo de ajuda psicológica é tão legítimo quanto o auxílio a uma pessoa em crise vocacional.
Mas por que razão a ressignificação dos desejos e sua requalificação é recusada com tanta veemência, mesmo quando se admite calmamente que o próprio corpo pode ser radicalmente modificado em nome dos sentimentos, dada a sua “plasticidade”, como se reivindica entre defensores do movimento “trans”? A razão é que moralidade e corporeidade são valores menos sólidos para o Homo Sentimentalis do que o próprio sentimento, que se tornou uma espécie de amuleto de segurança existencial:
“… o portador de um afeto é reconhecido como o árbitro supremo de seus próprios sentimentos. ‘Sinto que…’ implica não só que a pessoa tem o direito de se sentir dessa maneira, mas também que esse direito a habilita a ser aceita e reconhecida, simplesmente em virtude de ela se sentir de certo modo.” [18]
Essa fixidez mostra-se, não tanto um resultado científico, quanto uma espécie de doutrina moral e política, um problema de reconhecimento que traz uma dimensão exterior pública e uma dimensão interna existencial.
A questão de fundo deve, então, estar bem clara: o julgamento dos mapas morais dos pacientes encontra-se além do escopo das ciências psicológicas, mas ainda assim, eles não podem ser ignorados na prática psicológica.
Seria um caso de conflito de ciência e religião? Sim; mas a estrutura desse conflito não é trivial. Não se trata de um conflito do “obscurantismo religioso” contra “as luzes da ciência”. Pois, no caso, vemos ambos os grupos no escuro. Se não está claro para muitos setores religiosos que a fundamentação científica propriamente psico-lógica é indispensável para a prática profissional que tem seu foco no psiquismo, não está de modo algum claro que o CFP reconheça os limites do discurso psicológico e a jurisdição da religião na organização dos mapas morais e dos hiperbens humanos.
A verdadeira base ou estrutura por trás desse conflito reside, no entanto, para além das questões científicas ou filosóficas. O problema tem sua origem na ascensão do “Campo Afetivo”, como foi descrito por Eva Illouz: um campo de poder e de valores simbólicos relacionados às competências e capitais emocionais, e que disputa com a religião o poder de organizar a vida emocional dos indivíduos, mormente porque a religião continua mostrando competências e grande concentração de capitais emocionais. Desde que o campo afetivo se tornou uma espécie de “igreja” do expressivismo moral, sob o alegado conflito de “ciência e fé” temos, na verdade, um conflito de campos de poder social com suas respectivas moralidades.
Homo respondens
Enfim, para uma multidão de crentes e incréus, essa espiritualidade sentimental não faz nenhum sentido. Consideremos, aqui, os cristãos brasileiros, sejam católicos ou evangélicos: os que não são nominais sabem que o caminho da identidade não é a “autoexpressão sentimental”, mas a “imitação moral”.
A razão porque os tais continuarão ignorando os psicólogos que os ignoram é que para eles há uma realidade externa cujo significado não é meramente imposto pelo indivíduo. O significado está “lá fora”, numa ordem de bens e de finalidades, que se impõe à mente.
Esses crentes e não poucos incréus acreditam na existência de uma ordem moral objetiva, uma ordem de bens alheia a seus estados subjetivos e à sua vida afetiva. Para esses indivíduos com escrúpulos conservadores e não subjetivistas, há uma realidade externa cujo significado não é meramente imposto pelo indivíduo, como se projetado numa tela branca. O significado está lá, uma ordem de bens e de finalidades se impõe. Eles acreditam no que C. S. Lewis chama, em seu clássico “A Abolição do Homem”, de “Lei da Natureza Humana”.
Para os tais, o mundo real nos interpela e nos responsabiliza. Tudo o que podemos fazer é responder. Temos o privilégio e o dever de responder. Assim a identidade não surge de uma alegada autoexpressão, de uma autenticidade sentimental, mas de uma reciprocidade na qual a natureza, a sociedade, a história, o outro, e – por que não? – Deus já estão lá e participam da minha autodefinição. Ao invés de buracos negros subjetivos, somos planetas, relativos entre si e iluminados por um Sol.
Aos que clamam “biologia não é destino!” em nome da liberdade, segue-se como imperativo de coerência afirmar que afetividade também não é destino. Ainda que não possa ser ignorada, não é a última palavra sobre a jornada e a identidade de ninguém.
Guilherme Vilela Ribeiro de Carvalho é teólogo, mestre em Ciências da Religião e diretor de L’Abri Fellowship Brasil. Pastor da Igreja Esperança em Belo Horizonte, é também organizador e autor de Cosmovisão Cristã e Transformação e membro fundador da Associação Brasileira Cristãos na Ciência (ABC2).
Nota: Conteúdo publicado originalmente em Cristãos na Ciência.
Referências Bibliográficas
[1] Para um breve, mas útil histórico do processo, cf. Paolielo, Gilda, “A Despatologização da Homossexualidade.” Em: Quinet A. e Jorge, M.A.C., As Homossexualidades na Psicanálise: na História de sua Despatologização. São Paulo: Segmento Farma Editores, 2013, p. 29-46.
[2] A íntegra da ata da audiência pode ser encontrada no endereço: https://d2f17dr7ourrh3.cloudfront.net/wp-content/uploads/2017/09/ATA-DE-AUDI%C3%8ANCIA.pdf
[3] “Vou denominar os bens de ordem superior desse tipo de “hiperbens”, isto é, bens que não apenas são incomparavelmente mais importantes do que os outros como proporcionam uma perspectiva a partir da qual esses outros devem ser pesados, julgados e decididos.” Em: Taylor, Charles, As Fontes do Self: a construção da identidade moderna. São Paulo: Loyola, 2013 (1989), p. 90.
[4] “O que isso traz à luz é a ligação essencial entre identidade e uma espécie de orientação. Saber que se é equivale a estar orientado no espaço moral, um espaço em que surgem questões acerca do que é bom ou ruim, do que vale e do que não vale a pena fazer, do que tem sentido e importância para o indivíduo e do que é trivial e secundário.” Taylor, “As Fontes do Self”, p. 44.
“Só somos um Self na medida em que nos movemos em certo espaço de indagações, em que buscamos e encontramos uma orientação para o bem.” Taylor, “As Fontes do Self”, p. 52.
[5] Taylor, “A Fontes do Self”, p. 70.
[6] “Essa noção de uma voz ou impulso interior, a ideia de que encontramos a verdade dentro de nós e, em particular, em nossos sentimentos – esses foram os conceitos cruciais que justificavam a rebelião romântica em suas várias formas… É por isso que Rousseau é tão frequentemente o seu ponto de partida”. Taylor, “As Fontes do Self”, p. 472.
“…depois que se admite que o acesso ao significado das coisas é interior, que ele só é apreendido de forma adequada interiormente, é possível soltar sem problemas suas amarras das formulações ortodoxas” Taylor, “As Fontes do Self”, p.476.
[7] Taylor, “As Fontes do Self”, p. 482-3.
[8] Taylor, Charles, A Ética da autenticidade. São Paulo: É Realizações, 2017 (2010), p.85.
[9] Taylor, “A Ética”, p. 75.
[10] Taylor, “A Ética”, p. 65-6.
[11] Illouz, Eva, O Amor nos Tempos do Capitalismo. Rio de Janeiro: Zahar, 2011, p. 11-12.
[12] “… nossos sentimentos são partes integrantes de nossa definição mais original e primordial do bem.”
“Se o bem viver é definido em parte segundo certos sentimentos, então ele também pode soltar suas amarras e afastar-se dos códigos éticos tradicionais”. Taylor, “As Fontes do Self”, p. 479
[13] Rieff, Philip. The Triumph of the Therapeutic: uses of Faith after Freud. Wilmington: ISI Books, 2006 (1966): p. 19.
[14] Uma breve síntese da psicoistória Rieffiana encontra-se em: Zondervan, Antonius A. W., Sociology and the Sacred: An introduction to Philip Rieff’s Theory of Culture. Toronto: University of Toronto Press, 2005, p. 43-6.
[15] Taylor, “As Fontes do Self”, p. 90.
[16] Os trechos relevantes podem ser lidos no endereço: http://advivo.com.br/node/808210
[17] Cf. http://www.cppc.org.br/pronunciamento-do-cppc-resolucao-cfp-e-liminar/
[18] Illouz, “O Amor nos tempos do Capitalismo”, p. 59.
É teólogo, mestre em Ciências da Religião e diretor de L’Abri Fellowship Brasil. Pastor da Igreja Esperança em Belo Horizonte e presidente da Associação Kuyper para Estudos Transdisciplinares, é também organizador e autor de Cosmovisão Cristã e Transformação e membro fundador da Associação Brasileira Cristãos na Ciência (ABC2).
- Textos publicados: 37 [ver]
 19 de janeiro de 2018
19 de janeiro de 2018- Visualizações: 21891
 comente!
comente!- +A
- -A
-
 compartilhar
compartilhar
QUE BOM QUE VOCÊ CHEGOU ATÉ AQUI.
Ultimato quer falar com você.
A cada dia, mais de dez mil usuários navegam pelo Portal Ultimato. Leem e compartilham gratuitamente dezenas de blogs e hotsites, além do acervo digital da revista Ultimato, centenas de estudos bíblicos, devocionais diárias de autores como John Stott, Eugene Peterson, C. S. Lewis, entre outros, além de artigos, notícias e serviços que são atualizados diariamente nas diferentes plataformas e redes sociais.
PARA CONTINUAR, precisamos do seu apoio. Compartilhe conosco um cafezinho.

Leia mais em Opinião
Opinião do leitor
Para comentar é necessário estar logado no site. Clique aqui para fazer o login ou o seu cadastro.
Ainda não há comentários sobre este texto. Seja o primeiro a comentar!
Escreva um artigo em resposta
Para escrever uma resposta é necessário estar cadastrado no site. Clique aqui para fazer o login ou seu cadastro.
Ainda não há artigos publicados na seção "Palavra do leitor" em resposta a este texto.
- + vendidos
- + vistos

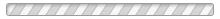


 (31)3611 8500
(31)3611 8500 (31)99437 0043
(31)99437 0043 Abuso sexual intrafamiliar e reconciliação entre familiares
Abuso sexual intrafamiliar e reconciliação entre familiares A devoção do descanso
A devoção do descanso
 A morte da morte
A morte da morte






