Opinião
 22 de junho de 2016
22 de junho de 2016- Visualizações: 4327
 comente!
comente!- +A
- -A
-
 compartilhar
compartilhar
Ciência e Religião: uma conversa significativa
 O enorme interesse público na recente visita do Papa aos Estados Unidos chamou a atenção para um dos enigmas culturais do início do século XXI: a persistência da religião em um “framework” secular. Enquanto alguns acreditavam que a ascensão de uma cultura secular levaria à morte lenta e inevitável da religião, o que temos visto é o surgimento de um padrão muito diferente. A religião está mudando, adaptando-se a um novo panorama cultural e encontrando novas formas de expressão e existência.
O enorme interesse público na recente visita do Papa aos Estados Unidos chamou a atenção para um dos enigmas culturais do início do século XXI: a persistência da religião em um “framework” secular. Enquanto alguns acreditavam que a ascensão de uma cultura secular levaria à morte lenta e inevitável da religião, o que temos visto é o surgimento de um padrão muito diferente. A religião está mudando, adaptando-se a um novo panorama cultural e encontrando novas formas de expressão e existência.As pessoas frequentemente associam a ascensão do secularismo ao progresso científico. Em seu importante trabalho, “A secular Age”, Charles Taylor discorre sobre o surgimento do que ele chamou de um “quadro imanente” (“immanent frame”), um hábito automático de pensamento que vê o universo como autocontido e autorreferencial. O que Taylor descreve aqui é uma predisposição cultural – uma forma axiomática de ver e conceber o mundo – que simplesmente exclui ou marginaliza o divino por questão de princípio. É “impensável” acreditar em algo diferente disso; de fato, ir contra essa mentalidade cultural é visto como algo irracional. Mas mesmo diante de tal cenário, a religião continua a ser uma presença significativa dentro de uma cultura científica, mesmo que, como sugeriu o novelista Flannery O’Connor, a cultura americana possa ser mais “assombrada por Cristo” que “centrada em Cristo”.
Isso naturalmente levanta uma questão importante: como a ciência e a religião se relacionam em um contexto como esse? A resposta culturalmente dominante, reciclada repetidamente por formadores de opinião preguiçosos, é que a ciência está associada às evidências e fatos, enquanto a religião está associada à fé cega. As duas estão condenadas a um relacionamento de guerra perpétua, ou, na melhor das hipóteses, à fria indiferença – sem possibilidades de conversas significativas – proposta pelo falecido Stephen Jay Gould.
Entretanto, a utilidade e plausibilidade de tais abordagens enfrentam problemas muito sérios. O grande revisionismo histórico dos últimos 40 anos deixou o modelo do “conflito” da relação entre ciência e religião (desenvolvido por razões polêmicas no fim do século XIX) muito enfraquecido diante das demonstrações acadêmicas de sua inadequação com relação às evidências. Como Peter Harrison mostra de forma clara em seu recente livro magistral, “The Territories of Science and Religion” (2015), nosso entendimento do que é ciência e religião é culturalmente determinado. Não há nenhuma característica essencial da ciência ou da religião que determina o relacionamento adequado entre elas. A interação histórica entre ciência e religião envolve elementos de tensão em alguns momentos e elementos de sinergia e colaboração em outros. Mas não existe um modelo universal, nenhum slogan perspicaz e simples que captura a essência da relação complexa e dinâmica entre elas.
Isso não impediu alguns de inventarem uma explicação normativa da relação entre elas que servisse às suas próprias agendas. O neo-ateísmo, que recebeu atenção pública na primeira década do século 21, viu a ciência como uma arma em sua batalha vacilante contra a presença da religião na cultura americana. Christopher Hitchens, uma das vozes mais estridentes dentro deste movimento, reescreveu (com grande entusiasmo) a história para mostrar um padrão claro de obscurantismo religioso diante do avanço científico.
Devido a restrições de espaço, discutiremos apenas um exemplo dos famosos pronunciamentos oraculares de Hitchens. Ele está correto quando diz a seus leitores que o escritor cristão, Timothy Dwight (1752-1811), um antigo presidente de Yale College, não era a favor da vacinação contra a varíola. Para Hitchens, o erro de julgamento de Dwight é típico da mente retrógrada das pessoas religiosas. Essa conclusão superficial é perturbadoramente pobre em termos de evidências e excessiva em seu tom de ridicularização. Hitchens, sem sombra de dúvidas, está correto em usar a vacinação contra varíola como um exemplo de hostilidade ao avanço científico, e em dizer que Dwight se opôs a essa vacinação. Mas as conclusões simplistas às quais ele chega apenas revelam seus próprios preconceitos e compromissos ideológicos profundamente enraizados. A situação é muito mais complexa e, de forma obstinada, ela não se conforma à narrativa de conflito que Hitchens abraça de forma tão acrítica. Vou oferecer dois contraexemplos para demonstrar o que estou dizendo.
Claramente, Hitchens acredita que a vacinação contra varíola é uma coisa boa, de forma que aqueles que se opõem a ela devem ser condenados e aqueles que a defendem devem ser louvados. Mas na geração que antecedeu Dwight, Jonathan Edwards (1703-1758), considerado hoje o maior pensador cristão americano, foi um ardente defensor da vacinação contra varíola. Edwards chegou até mesmo a voluntariar-se para receber a vacina, com o objetivo de mostrar a seus estudantes em Princeton que esse novo procedimento médico era seguro. A vacina não teve sucesso e Edwards morreu pouco tempo depois de recebê-la.
Infelizmente, esse viés perturbador é corroborado ainda mais pela impressionante ausência de qualquer menção por parte de Hitchens ao fato de que George Bernard Shaw (1856-1950), o influente escritor ateísta, se opôs à vacinação contra varíola em 1930, ridicularizando-a como uma ilusão e uma “obra imunda de bruxaria”. Ele acusou cientistas proeminentes, cujos trabalhos claramente suportavam a vacinação – como Louis Pasteur e Joseph Lister –, de serem charlatões que não sabiam nada sobre o método científico. E o pior de tudo é que Shaw fez tais afirmações absurdas no século vinte.
Continuar dando mais exemplos não faz muito sentido. Em vez disso, o que precisamos é elaborar um modelo de compreensão mais adequado para entender a ciência e a religião. As duas continuam sendo presenças significativas na cultura americana. A rejeição deliberada à possibilidade de qualquer diálogo significativo entre dois dos mais importantes elementos dessa cultura (ciência e religião) provavelmente irá contribuir para a sua balcanização. Entretanto, existem possibilidades de diálogo e enriquecimento mútuo para aqueles dispostos a assumir riscos e permitir que a ciência e a religião tenham uma conversa significativa.
Essa é a abordagem que adoto em meu novo livro, “The Big Question: Why we can’t stop talking about Science, Faith and God”. O livro é uma narrativa de minha própria jornada de 40 anos para encontrar formas de integrar ciência e fé de uma maneira que enriquece e informa ambas. Quando jovem, ao iniciar meus estudos científicos na Universidade de Oxford, eu assumi a visão de que a religião era algo completamente sem sentido, resultado de ignorância, e que ela rapidamente seria eliminada pelo progresso científico. O livro conta como eu gradualmente me desencantei com essa abordagem, à medida que fui percebendo sua implausibilidade intelectual e entendi que os seres humanos precisam de mais do que apenas uma descrição do mundo para viver a vida de forma significativa e informada.
Só mais tarde eu li o grande filósofo espanhol José Ortega y Gasset (1883-1955), que, ao discutir essa questão, foi capaz de ir direto ao ponto de uma forma muito mais eficaz do que eu conseguiria. “Cientistas são seres humanos”. Se, como seres humanos, queremos viver de forma plena, nós precisamos de algo além da descrição parcial da realidade que a ciência pode nos oferecer. Precisamos de uma “imagem do todo”, uma “ideia integral do universo”. Ortega descreveu a questão assim. Qualquer filosofia de vida, qualquer forma de pensar sobre as questões que realmente importam, terá que ir além da ciência – não porque exista algo errado com a ciência, mas, precisamente, porque as substanciais virtudes da ciência são obtidas por um preço. A ciência funciona tão bem por ser tão focada e específica em seus métodos.
A verdade científica é caracterizada por sua precisão e pela certeza de suas previsões. Mas a ciência alcança essas admiráveis qualidades ao custo de permanecer no nível das questões secundárias, deixando as questões últimas e decisivas intocadas.
Para Ortega, a grande virtude intelectual da ciência é que ela sabe seus limites. Ela responde apenas as questões que ela sabe que pode responder com base nas evidências. Entretanto, como seres humanos, nós queremos ir mais longe. Precisamos de respostas para as questões mais profundas que não podemos deixar de perguntar.
O livro “The Big Question” explora como podemos desenvolver múltiplos mapas da realidade que nos permitam elaborar uma “imagem do todo” da vida; uma parte desse todo é revelada pelas ciências naturais, outra, pela religião. O livro reconhece os limites da ciência e da religião e insiste que nós respeitemos e trabalhemos dentro desses limites. Tenho certeza de que o livro não será apreciado por fundamentalistas de nenhuma espécie, científica ou religiosa, que insistem que sua abordagem, por si só, pode nos dizer tudo que precisamos saber sobre a vida. Mas vivemos em um mundo complexo, e nenhuma forma isolada de tentar compreendê-lo é boa o bastante para lhe fazer justiça. Como disse a filósofa Mary Midgley (de forma muito sensata): “Para as questões mais importantes na vida, várias caixas de ferramentas conceituais diferentes precisam ser utilizadas em conjunto”.
A narrativa dominante do conflito entre ciência e religião já está ultrapassada; ela pertence ao passado. Em seu lugar, eu proponho uma narrativa de enriquecimento que, embora crítica, é também positiva. Não há nada novo nessa proposta. Estou apenas recuperando e atualizando um modelo mais antigo, que remonta à Renascença. Isso exige diálogo e humildade, e uma disposição para reconhecer a complexidade das coisas. Richard Dawkins e outros como ele levantaram boas perguntas; entretanto, as respostas que foram dadas são inadequadas. Está na hora de explorar outra abordagem. Acima de tudo, precisamos encontrar uma forma de lidar com aquilo que John Dewey declarou ser o “problema mais sério da vida moderna” – que nós falhamos em integrar nossos “pensamentos sobre o mundo” com nossos pensamentos sobre “valor e propósito”. A Renascença fazia isso muito bem. Talvez esteja na hora de recuperar sua visão.
• Alister McGrath é professor de Ciência e Religião — cadeira Andreas Idreos — na Universidade de Oxford. Ele é autor de A Ciência de Deus, Como Lidar com a Dúvida, entre outros.
• Tradução por Moisés Lisboa.
Nota:
Publicado originalmente no site Cristãos na Ciência
Leia também
Ciência, intolerância e fé
Verdadeiros Cientistas, Fé Verdadeira
Fé, Esperança e Tecnologia
Imagem: Mirko Delcaldo / Freeimages
 22 de junho de 2016
22 de junho de 2016- Visualizações: 4327
 comente!
comente!- +A
- -A
-
 compartilhar
compartilhar
QUE BOM QUE VOCÊ CHEGOU ATÉ AQUI.
Ultimato quer falar com você.
A cada dia, mais de dez mil usuários navegam pelo Portal Ultimato. Leem e compartilham gratuitamente dezenas de blogs e hotsites, além do acervo digital da revista Ultimato, centenas de estudos bíblicos, devocionais diárias de autores como John Stott, Eugene Peterson, C. S. Lewis, entre outros, além de artigos, notícias e serviços que são atualizados diariamente nas diferentes plataformas e redes sociais.
PARA CONTINUAR, precisamos do seu apoio. Compartilhe conosco um cafezinho.

Leia mais em Opinião
Opinião do leitor
Para comentar é necessário estar logado no site. Clique aqui para fazer o login ou o seu cadastro.
Ainda não há comentários sobre este texto. Seja o primeiro a comentar!
Escreva um artigo em resposta
Para escrever uma resposta é necessário estar cadastrado no site. Clique aqui para fazer o login ou seu cadastro.
Ainda não há artigos publicados na seção "Palavra do leitor" em resposta a este texto.
- + vendidos
- + vistos

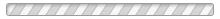


 (31)3611 8500
(31)3611 8500 (31)99437 0043
(31)99437 0043 Medo, prudência e coragem em tempos de pandemia
Medo, prudência e coragem em tempos de pandemia 10 verdades sobre o evangelho, a igreja e a missão
10 verdades sobre o evangelho, a igreja e a missão A ciência como instrumento de louvor e adoração
A ciência como instrumento de louvor e adoração Imprensa brasileira: a História se repete?
Imprensa brasileira: a História se repete?






