Opinião
 24 de outubro de 2017
24 de outubro de 2017- Visualizações: 24812
 comente!
comente!- +A
- -A
-
 compartilhar
compartilhar
Blade Runner 2049 e a sociedade das aparências
Por Carlos Caldas
Em 1982, com 18 anos, eu era calouro no curso de Teologia do Seminário Presbiteriano do Sul em Campinas. Certa noite fui a um dos cinemas da cidade assistir a um filme com título estranho: Blade Runner, Caçador de Androides. O filme me impressionou muito: ficção científica, que sempre gostei (e gosto até hoje), com uma narrativa muito interessante: em 2019 (ou seja, 37 anos no futuro) haveria tecnologia para confeccionar “replicantes”, isto é, androides sencientes, inteligências artificiais perfeitas, cópias perfeitas de seres humanos. Os replicantes fariam trabalhos perigosos para os humanos e seriam usados na colonização de outros planetas. Em outras palavras: o homem criou o homem à sua imagem e semelhança. Lembro-me perfeitamente bem de quanto o filme me impressionou na época.
 A narrativa se passava em uma Los Angeles futurista, uma chuva que nunca parava, com propagandas comerciais em neon o tempo todo, e uma babel de grupos étnicos e religiosos pra lá e pra cá o tempo nas calçadas (nunca me esqueço de uma cena rápida, que mostra um grupo de Hare Krishna com seus hábitos e tocando seus instrumentos musicais). Um grupo de replicantes vem para a Terra, porque eles sabem que têm prazo de validade. Aqueles replicantes rebeldes querem ampliar este prazo. Querem viver mais. Aí entra em cena o “Blade Runner” do título, uma espécie de policial especializado em localizar e exterminar (“aposentar”, o eufemismo usado no filme) estes androides. Em uma das últimas cenas do filme, um dos androides, vivido pelo ator holandês Rutger Hauer (que, a propósito, ultimamente anda sumido de Hollywood), salva a vida do seu perseguidor, o Blade Runner Deckard (personagem de Harrison Ford) e faz um monólogo lindo, no qual fala de suas memórias, das coisas extraordinárias que viu no espaço, que humano nenhum viu. Ele valoriza a vida acima de tudo. Quando sabe que vai “morrer”, prefere salvar a vida daquele que fora designado para exterminá-lo. Entendi ali que esta era a mensagem do filme; o sentido e a importância da vida.
A narrativa se passava em uma Los Angeles futurista, uma chuva que nunca parava, com propagandas comerciais em neon o tempo todo, e uma babel de grupos étnicos e religiosos pra lá e pra cá o tempo nas calçadas (nunca me esqueço de uma cena rápida, que mostra um grupo de Hare Krishna com seus hábitos e tocando seus instrumentos musicais). Um grupo de replicantes vem para a Terra, porque eles sabem que têm prazo de validade. Aqueles replicantes rebeldes querem ampliar este prazo. Querem viver mais. Aí entra em cena o “Blade Runner” do título, uma espécie de policial especializado em localizar e exterminar (“aposentar”, o eufemismo usado no filme) estes androides. Em uma das últimas cenas do filme, um dos androides, vivido pelo ator holandês Rutger Hauer (que, a propósito, ultimamente anda sumido de Hollywood), salva a vida do seu perseguidor, o Blade Runner Deckard (personagem de Harrison Ford) e faz um monólogo lindo, no qual fala de suas memórias, das coisas extraordinárias que viu no espaço, que humano nenhum viu. Ele valoriza a vida acima de tudo. Quando sabe que vai “morrer”, prefere salvar a vida daquele que fora designado para exterminá-lo. Entendi ali que esta era a mensagem do filme; o sentido e a importância da vida.
Anos depois é que soube que aquele filme veio a ser considerado uma obra prima do cinema, e que fora baseado no romance “Androides sonham com ovelhas elétricas”, do escritor norte-americano Philip K. Dick, um dos grandes nomes da ficção científica do século passado, e que teve como diretor o inglês Ridley Scott, que acumula sucessos estrondosos e fracassos retumbantes em sua carreira.
Eis que passados 35 anos, o filme recebe uma continuação. A tarefa da direção coube ao muito competente diretor franco-canadense Denis Villeneuve (que dirigiu o maravilhoso A Chegada, já comentado aqui nesta coluna). A narrativa, tal como já indicado no título, acontece 30 anos depois do primeiro filme. Villeneuve revisita de maneira grandiosa, gloriosa e maximizada o filme de Scott (assim como o recente Mad Max: Estrada da Fúria, de 2015, também revisita de maneira grandiosa, gloriosa e maximizada Mad Max: O Guerreiro da Estrada, de 1981). Villeneuve soube manter a estética noir do primeiro filme, a sensação constante de melancolia e angústia de uma sociedade saturada de apelos comerciais e consumistas, com arranha céus absurdamente grandes e onde nunca se vê o sol.
O filme tem atuações surpreendentes, como a de Dave Bautista, que aparece muito rapidamente no primeiro arco, e que, por mais incrível que pareça, demonstrou que não é só um brucutu para filmes de ação. O replicante vivido por Bautista consegue imprimir sensibilidade e dramaticidade à narrativa. Por falar em atuação, me incomodou a de Ryan Gosling, que faz o papel principal. Em um filme longo, cerca de três horas, Gosling muda de expressão no máximo três vezes. Ele está o tempo todo com a mesma cara, impassível. É bem verdade que ele mesmo é um replicante (ou pelo menos, isto é o que ele pensa), e como tal, não demonstra emoções. Mas ele não tem de jeito nenhum a expressividade de um ator como James McAvoy por exemplo.
O filme é longo, e poderá desagradar alguns que estão acostumados com blockbusters, como os de super heróis ou os da franquia Velozes e Furiosos, recheados de perseguições surreais, explosões, tiroteios, pancadarias e pouco diálogo, ou, no máximo, diálogos superficiais. Scott e Villeneuve demonstraram coragem para não se render ao apelo comercial, porque seus filmes são “cabeça”, e não “pipoca”. Em outras palavras: não são filmes de fácil digestão. Antes, são filmes que provocam, que mexem com que os assiste, e que fazem pensar. Tanto um quanto o outro são muito bons, e tudo indica que, tal como o filme de 1981, o de 2017 também vai alcançar o status de “cult movie”.
Se o filme de Scott tem como eixo principal a vida e seu sentido, a continuação dirigida por Villeneuve nos faz pensar na sociedade em que vivemos na qual a maioria das pessoas dá importância exagerada à aparência. Nossa sociedade é a que foi descrita pelo filósofo francês Jean Baudrillard como sendo a sociedade do simulacro, na qual a representação, a cópia, vale mais que a realidade que o simulacro representa. Em nossa sociedade, as pessoas muitas vezes querem mostrar para as outras uma persona, na maioria das vezes, bem sucedida, vitoriosa, excepcionalmente competente em tudo que faz, que só tem glórias e vitórias para contar e exibir. Com raras exceções, as pessoas não são o que são. Ou, melhor dizendo, não são o que aparentam ser, tal como na Los Angeles futurista e distópica imaginada pelas obras de Scott e Villeneuve, em que a cópia vale mais que o real. Infelizmente as igrejas na maioria das vezes reproduzem, conscientemente ou não, o discurso que leva os frequentadores e fieis a exibirem uma aparência, um símbolo, um simulacro, quando mais que em qualquer outro lugar, deveriam incentivar as pessoas a serem o que elas são. A mensagem da graça de Deus é uma mensagem que desafia à integridade, e um convite poderoso a vivermos a vida com autenticidade, não no simulacro de uma perfeição que não temos.
Leia mais
Cinco séries que vale a pena conhecer
Valerian e a Cidade dos Mil Planetas
“A Cabana” na berlinda
Silêncio, um filme de Martin Scorsese
Em 1982, com 18 anos, eu era calouro no curso de Teologia do Seminário Presbiteriano do Sul em Campinas. Certa noite fui a um dos cinemas da cidade assistir a um filme com título estranho: Blade Runner, Caçador de Androides. O filme me impressionou muito: ficção científica, que sempre gostei (e gosto até hoje), com uma narrativa muito interessante: em 2019 (ou seja, 37 anos no futuro) haveria tecnologia para confeccionar “replicantes”, isto é, androides sencientes, inteligências artificiais perfeitas, cópias perfeitas de seres humanos. Os replicantes fariam trabalhos perigosos para os humanos e seriam usados na colonização de outros planetas. Em outras palavras: o homem criou o homem à sua imagem e semelhança. Lembro-me perfeitamente bem de quanto o filme me impressionou na época.
 A narrativa se passava em uma Los Angeles futurista, uma chuva que nunca parava, com propagandas comerciais em neon o tempo todo, e uma babel de grupos étnicos e religiosos pra lá e pra cá o tempo nas calçadas (nunca me esqueço de uma cena rápida, que mostra um grupo de Hare Krishna com seus hábitos e tocando seus instrumentos musicais). Um grupo de replicantes vem para a Terra, porque eles sabem que têm prazo de validade. Aqueles replicantes rebeldes querem ampliar este prazo. Querem viver mais. Aí entra em cena o “Blade Runner” do título, uma espécie de policial especializado em localizar e exterminar (“aposentar”, o eufemismo usado no filme) estes androides. Em uma das últimas cenas do filme, um dos androides, vivido pelo ator holandês Rutger Hauer (que, a propósito, ultimamente anda sumido de Hollywood), salva a vida do seu perseguidor, o Blade Runner Deckard (personagem de Harrison Ford) e faz um monólogo lindo, no qual fala de suas memórias, das coisas extraordinárias que viu no espaço, que humano nenhum viu. Ele valoriza a vida acima de tudo. Quando sabe que vai “morrer”, prefere salvar a vida daquele que fora designado para exterminá-lo. Entendi ali que esta era a mensagem do filme; o sentido e a importância da vida.
A narrativa se passava em uma Los Angeles futurista, uma chuva que nunca parava, com propagandas comerciais em neon o tempo todo, e uma babel de grupos étnicos e religiosos pra lá e pra cá o tempo nas calçadas (nunca me esqueço de uma cena rápida, que mostra um grupo de Hare Krishna com seus hábitos e tocando seus instrumentos musicais). Um grupo de replicantes vem para a Terra, porque eles sabem que têm prazo de validade. Aqueles replicantes rebeldes querem ampliar este prazo. Querem viver mais. Aí entra em cena o “Blade Runner” do título, uma espécie de policial especializado em localizar e exterminar (“aposentar”, o eufemismo usado no filme) estes androides. Em uma das últimas cenas do filme, um dos androides, vivido pelo ator holandês Rutger Hauer (que, a propósito, ultimamente anda sumido de Hollywood), salva a vida do seu perseguidor, o Blade Runner Deckard (personagem de Harrison Ford) e faz um monólogo lindo, no qual fala de suas memórias, das coisas extraordinárias que viu no espaço, que humano nenhum viu. Ele valoriza a vida acima de tudo. Quando sabe que vai “morrer”, prefere salvar a vida daquele que fora designado para exterminá-lo. Entendi ali que esta era a mensagem do filme; o sentido e a importância da vida. Anos depois é que soube que aquele filme veio a ser considerado uma obra prima do cinema, e que fora baseado no romance “Androides sonham com ovelhas elétricas”, do escritor norte-americano Philip K. Dick, um dos grandes nomes da ficção científica do século passado, e que teve como diretor o inglês Ridley Scott, que acumula sucessos estrondosos e fracassos retumbantes em sua carreira.
Eis que passados 35 anos, o filme recebe uma continuação. A tarefa da direção coube ao muito competente diretor franco-canadense Denis Villeneuve (que dirigiu o maravilhoso A Chegada, já comentado aqui nesta coluna). A narrativa, tal como já indicado no título, acontece 30 anos depois do primeiro filme. Villeneuve revisita de maneira grandiosa, gloriosa e maximizada o filme de Scott (assim como o recente Mad Max: Estrada da Fúria, de 2015, também revisita de maneira grandiosa, gloriosa e maximizada Mad Max: O Guerreiro da Estrada, de 1981). Villeneuve soube manter a estética noir do primeiro filme, a sensação constante de melancolia e angústia de uma sociedade saturada de apelos comerciais e consumistas, com arranha céus absurdamente grandes e onde nunca se vê o sol.
O filme tem atuações surpreendentes, como a de Dave Bautista, que aparece muito rapidamente no primeiro arco, e que, por mais incrível que pareça, demonstrou que não é só um brucutu para filmes de ação. O replicante vivido por Bautista consegue imprimir sensibilidade e dramaticidade à narrativa. Por falar em atuação, me incomodou a de Ryan Gosling, que faz o papel principal. Em um filme longo, cerca de três horas, Gosling muda de expressão no máximo três vezes. Ele está o tempo todo com a mesma cara, impassível. É bem verdade que ele mesmo é um replicante (ou pelo menos, isto é o que ele pensa), e como tal, não demonstra emoções. Mas ele não tem de jeito nenhum a expressividade de um ator como James McAvoy por exemplo.
O filme é longo, e poderá desagradar alguns que estão acostumados com blockbusters, como os de super heróis ou os da franquia Velozes e Furiosos, recheados de perseguições surreais, explosões, tiroteios, pancadarias e pouco diálogo, ou, no máximo, diálogos superficiais. Scott e Villeneuve demonstraram coragem para não se render ao apelo comercial, porque seus filmes são “cabeça”, e não “pipoca”. Em outras palavras: não são filmes de fácil digestão. Antes, são filmes que provocam, que mexem com que os assiste, e que fazem pensar. Tanto um quanto o outro são muito bons, e tudo indica que, tal como o filme de 1981, o de 2017 também vai alcançar o status de “cult movie”.
Se o filme de Scott tem como eixo principal a vida e seu sentido, a continuação dirigida por Villeneuve nos faz pensar na sociedade em que vivemos na qual a maioria das pessoas dá importância exagerada à aparência. Nossa sociedade é a que foi descrita pelo filósofo francês Jean Baudrillard como sendo a sociedade do simulacro, na qual a representação, a cópia, vale mais que a realidade que o simulacro representa. Em nossa sociedade, as pessoas muitas vezes querem mostrar para as outras uma persona, na maioria das vezes, bem sucedida, vitoriosa, excepcionalmente competente em tudo que faz, que só tem glórias e vitórias para contar e exibir. Com raras exceções, as pessoas não são o que são. Ou, melhor dizendo, não são o que aparentam ser, tal como na Los Angeles futurista e distópica imaginada pelas obras de Scott e Villeneuve, em que a cópia vale mais que o real. Infelizmente as igrejas na maioria das vezes reproduzem, conscientemente ou não, o discurso que leva os frequentadores e fieis a exibirem uma aparência, um símbolo, um simulacro, quando mais que em qualquer outro lugar, deveriam incentivar as pessoas a serem o que elas são. A mensagem da graça de Deus é uma mensagem que desafia à integridade, e um convite poderoso a vivermos a vida com autenticidade, não no simulacro de uma perfeição que não temos.
Leia mais
Cinco séries que vale a pena conhecer
Valerian e a Cidade dos Mil Planetas
“A Cabana” na berlinda
Silêncio, um filme de Martin Scorsese
É professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, onde coordena o GPRA – Grupo de Pesquisa Religião e Arte.
- Textos publicados: 82 [ver]
 24 de outubro de 2017
24 de outubro de 2017- Visualizações: 24812
 comente!
comente!- +A
- -A
-
 compartilhar
compartilhar
QUE BOM QUE VOCÊ CHEGOU ATÉ AQUI.
Ultimato quer falar com você.
A cada dia, mais de dez mil usuários navegam pelo Portal Ultimato. Leem e compartilham gratuitamente dezenas de blogs e hotsites, além do acervo digital da revista Ultimato, centenas de estudos bíblicos, devocionais diárias de autores como John Stott, Eugene Peterson, C. S. Lewis, entre outros, além de artigos, notícias e serviços que são atualizados diariamente nas diferentes plataformas e redes sociais.
PARA CONTINUAR, precisamos do seu apoio. Compartilhe conosco um cafezinho.

Leia mais em Opinião
Opinião do leitor
Para comentar é necessário estar logado no site. Clique aqui para fazer o login ou o seu cadastro.
Ainda não há comentários sobre este texto. Seja o primeiro a comentar!
Escreva um artigo em resposta
Para escrever uma resposta é necessário estar cadastrado no site. Clique aqui para fazer o login ou seu cadastro.
Ainda não há artigos publicados na seção "Palavra do leitor" em resposta a este texto.
- + vendidos
- + vistos

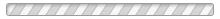


 (31)3611 8500
(31)3611 8500 (31)99437 0043
(31)99437 0043 Lutar pelos sonhos é possível após os 60. Sempre pela bondade do Senhor
Lutar pelos sonhos é possível após os 60. Sempre pela bondade do Senhor O legado de Ronald J. Sider
O legado de Ronald J. Sider 7 considerações sobre a exposição “Queermuseu”, do Santander Cultural
7 considerações sobre a exposição “Queermuseu”, do Santander Cultural Saúde integral e fé cristã
Saúde integral e fé cristã






