Opinião
 21 de junho de 2018
21 de junho de 2018- Visualizações: 3549
 comente!
comente!- +A
- -A
-
 compartilhar
compartilhar
Arte e moralidade podem andar juntas?
Por Norma Braga
 O autor que vou apresentar aqui não tem uma imagem muito boa entre os cristãos. Se o nome dele constasse no título, talvez muitos desistissem de ler este artigo. E isso seria uma pena. Trata-se de Nelson Rodrigues, escritor e dramaturgo brasileiro, nascido em 1912 e morto em 1980.
O autor que vou apresentar aqui não tem uma imagem muito boa entre os cristãos. Se o nome dele constasse no título, talvez muitos desistissem de ler este artigo. E isso seria uma pena. Trata-se de Nelson Rodrigues, escritor e dramaturgo brasileiro, nascido em 1912 e morto em 1980.
Creio que boa parte de sua má fama se deve a algumas adaptações para o cinema de suas peças de teatro. É por causa delas que muita gente, até hoje, tem Nelson como um autor imoral que recheava sua obra de sexo e palavrões. Quanto aos palavrões, podem procurar: o escritor Carlos Heitor Cony, que foi seu amigo pessoal, observou uma vez que não há um só em toda a sua dramaturgia. Já sobre o sexo, é verdade que ele retratou temas difíceis, como ciúme, adultério e incesto, de um modo bastante carregado. Fez seus personagens dizerem e fazerem coisas abomináveis. Mas existe uma grande diferença entre exposição da imoralidade e apologia da imoralidade (sobre isso, ver meu artigo sobre a mostra Queermuseu). A obra de Nelson, muito claramente, vai no mesmo sentido que o teatro grego: expõe o mal para condená-lo.
Sim, Nelson era uma espécie de neoclássico. Eis uma de suas frases mais reveladoras desse fato: “O homem começa a ser homem depois dos instintos e contra os instintos.” O autocontrole era um dos valores antigos mais importantes, em oposição ao espírito anticlássico da nossa cultura hoje, que é rousseauniana, romântica, e aderiu sem reservas à autenticidade e à espontaneidade. Como neoclássico, Nelson também acreditava na “catarse”, ou seja, o processo descrito por Aristóteles em que os espectadores das tragédias gregas purgam seu próprio mal ao se verem em cena. O personagem engana, trai, mata, e sempre é atingido pelas dolorosas consequências do que fez; ao presenciar tudo isso, o espectador reconhece em si mesmo a inclinação para aquelas maldades, tornando-se menos propenso a repeti-las no mundo real. Transferida para a arte, essa expectativa não deixa de ser um modo humano, portanto inócuo, de redenção. Cientes de que só Cristo pode nos redimir, abordamos essa ideia já com um espírito desenganado, sabendo que as emoções que os personagens nos suscitam não são suficientes para impedir o extravasar do mal. No máximo, convencem-nos de que não somos tão bons quanto imaginamos.
Mas isso já é extraordinário. Autores que têm uma concepção mais pé-no-chão do ser humano são muito necessários no mundo de hoje. Em nossa cultura politicamente correta, cheia de bons sentimentos, todo mundo quer desesperadamente acreditar na própria inocência, mesmo com sangue nas mãos: a defesa do aborto e o apoio a regimes sanguinários como o de Cuba e Coreia do Norte não me deixam mentir. Nessa atmosfera de compulsiva autojustificação, autores como Nelson retratam o mal que nos é próprio da forma mais crua possível, contribuindo para desfazer essa cegueira. São autores que, mesmo quando não são cristãos, agem como instrumentos de Deus para mostrar ao homem contemporâneo que a bondade não pode se resumir à moralidade do vendedor ambulante de ônibus: “não estou roubando, não estou matando…”. Evidenciam que todos nós, sem exceção, somos maus e precisamos de redenção. Cabe à igreja saber ouvir e aproveitar esse grito que vem das obras de arte e ecoa a verdade de Deus.
Poucos de seus contemporâneos perceberam ou valorizaram essa característica. O poeta Manuel Bandeira chegou a lhe perguntar: “Por que você não escreve sobre pessoas normais?” (E onde estava o cristão amigo de Bandeira para responder-lhe que ninguém é normal?) Em uma excelente biografia de Nelson, O anjo pornográfico, Ruy Castro observou com exatidão: “Ninguém enxergava que a força que o movia era uma profunda ‘nostalgia da pureza’ — pureza que só seria atingida depois que o homem chapinhasse descalço sobre as mais hediondas impurezas.” Suas convicções, porém, estão mais presentes no Nelson cronista (de longe meu preferido) que no Nelson dramaturgo, embaladas em uma prosa intimista, divertida e irresistível. São as crônicas que revelam melhor o moralista que Nelson era, um moralista admirável: não do tipo que prega por achar-se puro e, por isso, aponta de longe para as mazelas de seu tempo como se não quisesse se “contaminar” com elas, tal como os fariseus do tempo de Jesus. Nelson parte da certeza absoluta de que o mal é constitutivo do ser humano, de que todos nós temos nossos “íntimos pântanos”.
Isso é muito evidente em O óbvio ululante, quando ele rememora ao longo de várias páginas os acontecimentos em torno da morte do escritor Guimarães Rosa, implicando-se diretamente neles. Rosa alcançara imensa fama por sua obra e, incensadíssimo, obtivera o status de “gênio” ainda em vida, enquanto Nelson passara anos a fio levando pancada de todos os lados: do meio intelectual brasileiro, responsável por sua pecha de “reacionário”; do público de suas peças, ainda não acostumado com sua carga simbólica (o Teatro do Absurdo ainda demoraria alguns anos para chegar ao Brasil); e do governo militar, que o censurou muito. É quando, num rasgo de honestidade raríssimo em nossa literatura (sobre essa raridade, ver o ótimo A poeira da glória, de Martim Vasques da Cunha), chega ao ponto de confessar uma “canalhice”: havia experimentado uma pontinha de alegria quando Rosa morreu. É o tipo de coisa que muitos de nós não confessamos nem mesmo para Deus, mas Nelson usava a escrita também (e talvez sobretudo) para se expor. Mesmo quando descreve o mal alheio — nos outros, na cultura –, esse mal é apontado e denunciado não com a indignação do puro, mas com um espanto quase infantil de quem vê as coisas de ponta-cabeça. Com seus coloquialismos e seu característico estilo hiperbólico, ele tenta colocá-las de volta na posição certa — e por isso Gilberto Freyre o comparou a Chesterton em sua valorização do senso comum. Uma de suas frases geniais o corrobora: “Só os profetas enxergam o óbvio.” O quanto ele se veria pasmo em nossos dias, com tantos soi disant intelectuais negando os fatos e as realidades mais patentes! Exclamaria com ainda mais propriedade: “Hoje é muito difícil não ser canalha. Todas as pressões trabalham para o nosso aviltamento pessoal e coletivo.”
Minhas edições tanto de O óbvio ululante como de A cabra vadia, publicadas na década de 1990 pela Companhia das Letras, foram compilações feitas por Ruy Castro de artigos publicados no jornal O Globo entre novembro de 1967 e outubro de 1968. Estão em ordem cronológica e fazem um sentido brutal para nós. Ruy Castro pondera que “podem ser lidos hoje como tragicômicas profecias daquilo que o Brasil se tornaria nas décadas seguintes”. De fato, em todo o mundo, não só no Brasil, mudanças profundas de cosmovisão começaram a operar-se ao longo da década de 1960. Vou elencar alguns de seus elementos:
- Primeiro, a chamada “revolução sexual”, com a ideia aparentemente libertadora do “amor livre”, destruiu os limites saudáveis do sexo dentro do casamento. Nos anos 1950, as mocinhas de família esperavam até casar. Dos anos 1960 em diante, todos nós sabemos que mocinhas de família têm uma assim chamada “vida sexual” bem antes do casamento. Por toda parte, as mulheres passaram a usar menos roupa, comportando-se como objetos de desejo cada vez mais facilmente alcançáveis. E, bem na época em que todo mundo saudava o surgimento do biquíni como moderníssimo e “pra frente”, como se dizia, o Nelson escrevia: “Começamos a época da nudez sem amor, do nu de graça e, repito, sem o pretexto do amor. A nudez exclusiva para o amado deixou de existir.”
- A autoridade passou a ser contestada em todas as esferas, inclusive a familiar, enquanto se consolidava a exaltação da juventude e da rebeldia. E o Nelson, consternado, observava: “Há vários projetos do novo Brasil. Qual deles há de vingar, finalmente? Qual deles terá bastante vitalidade histórica? Há muita gente disposta a matar e a morrer pelo Brasil do ódio. Pode parecer que eu esteja exagerando. Mas os sintomas estão à nossa vista com apavorante nitidez. (…) Este povo está vivendo uma época de pouquíssimo amor. O ódio é mais promovido que marca de refrigerante. No ano passado, fui testemunha auditiva e ocular de duas rixas familiares. Em ambas as ocasiões, um filho berrou para o pai: ‘Te parto a cara!’ E só não se engalfinharam, à vista da mãe, das tias, dos cunhados, dos outros filhos e das visitas, porque nas duas vezes o velho capitulou. ‘Ficou por isso mesmo?’, perguntará o leitor. Não, não ficou por isso mesmo. Num dos episódios, o pai chamou o filho e deu-lhe um Galaxie. (…) Justificado, adulado pelos velhos, que faz o jovem? Nunca odiou tanto.”
- O materialismo ganhava as mentes como pano de fundo obrigatório entre os intelectuais, acabando com a “nostalgia da vida eterna”, como dizia o Nelson, que lamentava que até os padres (ele era católico) começassem a achar mais importante o ativismo político que a preocupação com a alma.
- A ideia de que o mundo se compõe de classes e cada pessoa representa fielmente o pensamento e as ambições de sua classe ganhava status de verdade incontestável. (Nesse sentido, é curioso que o próprio Karl Marx tenha sido um burguês que nunca trabalhou formalmente e vivia pedindo dinheiro a família e amigos, mas falasse com tranquilidade em nome dos trabalhadores.) Nelson detestava a impessoalidade, o coletivismo, as abstrações forçadas. Escreveu: “Ao ouvir falar em ‘o jovem’, respondi com a mais singela e casta boa-fé: ‘não conheço’. Realmente não conheço ‘o jovem’, como não conheço ‘o artista’, como não conheço ‘o judeu’. Foi a Bernard Shaw, parece, que perguntaram sobre a multidão. Uma pergunta idiota, mais ou menos assim: ‘Que é que o senhor acha da multidão? E ele retrucou: ‘Gosto ou desgosto de quem tem uma cara só’.” Essa crítica é impressionante quando hoje o pensamento politicamente correto é um pressuposto praticamente obrigatório para a aprovação intelectual e moral: antes de indivíduos, existe uma pressão para que as pessoas se vejam como “pobre”, “negro”, “mulher” ou “gay”, pulando para dentro de uma trincheira toda prontinha, com bandeiras já pré-fabricadas e sem pensar muito por conta própria. Um dos efeitos mais cruéis disso é a invenção da culpa coletiva: nunca foi tão fácil fugir da responsabilidade individual quando há toda uma construção ideológica pronta a justificar o criminoso por seu passado infeliz de opressão.
Não é difícil perceber que uma cosmovisão legitimamente cristã rejeita todos esses pontos. Segundo a Bíblia, as pessoas não cometem erros ou crimes porque pertencem a uma classe oprimida, mas sim porque se inclinaram a isso por sua consciência cauterizada. O reconhecimento dos próprios pecados, primeiro passo de todo novo convertido e prática constante do cristão verdadeiro, requer um senso de responsabilidade individual, que se agudiza ao longo do processo de santificação. Em vez disso, muitos criminosos sentem hoje uma imensa dificuldade para experimentar uma culpa razoável diante do malfeito, pois há a sua volta toda uma configuração social que os empurra para longe da verdade: a justificação da violência como uma reação válida do oprimido, a valorização dos instintos acima da autocontenção, o ódio às autoridades, a positivação da inveja. E, como a cereja do bolo, o materialismo: se Deus não é autoridade acima de todos, não há a quem prestar contas; não há julgamento final, não há uma moral objetiva e absoluta para o ser humano — e como disse Dostoievsky, que aliás era um dos romancistas preferidos do Nelson, “se Deus não existe, tudo é permitido”.
Aos poucos, a indignação rodrigueana contra esse estado de coisas se tornou minha também. Suas ideias de fato me ajudaram a aproximar-me do Deus bíblico. A cronologia o atesta: comecei a ler O óbvio ululante em 1994 e me converti no final de 1995. Como a grande maioria das pessoas de minha idade, na época em que tive meu primeiro contato com ele, eu era adepta daquele tipo de esquerdismo que se pega no ar e nos faz endossar uma configuração igual ou semelhante à que descrevi, ainda que nunca tenhamos parado para pensar nas implicações disso. Essa configuração foi grandemente confrontada. Nos dizeres do nosso teólogo mais afeito à arte, Francis Schaeffer, Deus utilizou essas obras para me “tirar o telhado”: enquanto eu lia o Nelson falando do amor, fazendo crítica cultural, argumentando contra os progressistas da época e defendendo valores antigos, Deus combatia pressupostos que, arraigados há muito, iam na contramão do pensamento bíblico, preparando o terreno do meu coração para se apresentar a mim.
Então, arte e moralidade podem andar juntas? Aqui temos o exemplo de um autor que moraliza sem entediar, sem colocar-se em um patamar superior, ao mesmo tempo em que cuida para que sua linguagem tenha identidade e alto padrão estético. Sim, arte e moralidade podem andar juntas, e esse é um desafio para nós, cristãos, no Brasil pós-moderno: confrontar a imoralidade — ou melhor, confrontar o pecado — com força, beleza e senso da humanidade em comum.
Nota: Artigo publicado originalmente no blog Literatura & Redenção. Reproduzido com permissão.
• Norma Braga é apaixonada por literatura. Cresceu lendo Monteiro Lobato, converteu-se lendo George Orwell e Nelson Rodrigues, e segue lendo Proust, Fitzgerald, Dostoievsky, Thomas Mann, Flannery O’Connor, C.S. Lewis e muitos outros.
Imagem ilustrativa: Photo by Juan Di Nella on Unsplash
 O autor que vou apresentar aqui não tem uma imagem muito boa entre os cristãos. Se o nome dele constasse no título, talvez muitos desistissem de ler este artigo. E isso seria uma pena. Trata-se de Nelson Rodrigues, escritor e dramaturgo brasileiro, nascido em 1912 e morto em 1980.
O autor que vou apresentar aqui não tem uma imagem muito boa entre os cristãos. Se o nome dele constasse no título, talvez muitos desistissem de ler este artigo. E isso seria uma pena. Trata-se de Nelson Rodrigues, escritor e dramaturgo brasileiro, nascido em 1912 e morto em 1980.Creio que boa parte de sua má fama se deve a algumas adaptações para o cinema de suas peças de teatro. É por causa delas que muita gente, até hoje, tem Nelson como um autor imoral que recheava sua obra de sexo e palavrões. Quanto aos palavrões, podem procurar: o escritor Carlos Heitor Cony, que foi seu amigo pessoal, observou uma vez que não há um só em toda a sua dramaturgia. Já sobre o sexo, é verdade que ele retratou temas difíceis, como ciúme, adultério e incesto, de um modo bastante carregado. Fez seus personagens dizerem e fazerem coisas abomináveis. Mas existe uma grande diferença entre exposição da imoralidade e apologia da imoralidade (sobre isso, ver meu artigo sobre a mostra Queermuseu). A obra de Nelson, muito claramente, vai no mesmo sentido que o teatro grego: expõe o mal para condená-lo.
Sim, Nelson era uma espécie de neoclássico. Eis uma de suas frases mais reveladoras desse fato: “O homem começa a ser homem depois dos instintos e contra os instintos.” O autocontrole era um dos valores antigos mais importantes, em oposição ao espírito anticlássico da nossa cultura hoje, que é rousseauniana, romântica, e aderiu sem reservas à autenticidade e à espontaneidade. Como neoclássico, Nelson também acreditava na “catarse”, ou seja, o processo descrito por Aristóteles em que os espectadores das tragédias gregas purgam seu próprio mal ao se verem em cena. O personagem engana, trai, mata, e sempre é atingido pelas dolorosas consequências do que fez; ao presenciar tudo isso, o espectador reconhece em si mesmo a inclinação para aquelas maldades, tornando-se menos propenso a repeti-las no mundo real. Transferida para a arte, essa expectativa não deixa de ser um modo humano, portanto inócuo, de redenção. Cientes de que só Cristo pode nos redimir, abordamos essa ideia já com um espírito desenganado, sabendo que as emoções que os personagens nos suscitam não são suficientes para impedir o extravasar do mal. No máximo, convencem-nos de que não somos tão bons quanto imaginamos.
Mas isso já é extraordinário. Autores que têm uma concepção mais pé-no-chão do ser humano são muito necessários no mundo de hoje. Em nossa cultura politicamente correta, cheia de bons sentimentos, todo mundo quer desesperadamente acreditar na própria inocência, mesmo com sangue nas mãos: a defesa do aborto e o apoio a regimes sanguinários como o de Cuba e Coreia do Norte não me deixam mentir. Nessa atmosfera de compulsiva autojustificação, autores como Nelson retratam o mal que nos é próprio da forma mais crua possível, contribuindo para desfazer essa cegueira. São autores que, mesmo quando não são cristãos, agem como instrumentos de Deus para mostrar ao homem contemporâneo que a bondade não pode se resumir à moralidade do vendedor ambulante de ônibus: “não estou roubando, não estou matando…”. Evidenciam que todos nós, sem exceção, somos maus e precisamos de redenção. Cabe à igreja saber ouvir e aproveitar esse grito que vem das obras de arte e ecoa a verdade de Deus.
Poucos de seus contemporâneos perceberam ou valorizaram essa característica. O poeta Manuel Bandeira chegou a lhe perguntar: “Por que você não escreve sobre pessoas normais?” (E onde estava o cristão amigo de Bandeira para responder-lhe que ninguém é normal?) Em uma excelente biografia de Nelson, O anjo pornográfico, Ruy Castro observou com exatidão: “Ninguém enxergava que a força que o movia era uma profunda ‘nostalgia da pureza’ — pureza que só seria atingida depois que o homem chapinhasse descalço sobre as mais hediondas impurezas.” Suas convicções, porém, estão mais presentes no Nelson cronista (de longe meu preferido) que no Nelson dramaturgo, embaladas em uma prosa intimista, divertida e irresistível. São as crônicas que revelam melhor o moralista que Nelson era, um moralista admirável: não do tipo que prega por achar-se puro e, por isso, aponta de longe para as mazelas de seu tempo como se não quisesse se “contaminar” com elas, tal como os fariseus do tempo de Jesus. Nelson parte da certeza absoluta de que o mal é constitutivo do ser humano, de que todos nós temos nossos “íntimos pântanos”.
Isso é muito evidente em O óbvio ululante, quando ele rememora ao longo de várias páginas os acontecimentos em torno da morte do escritor Guimarães Rosa, implicando-se diretamente neles. Rosa alcançara imensa fama por sua obra e, incensadíssimo, obtivera o status de “gênio” ainda em vida, enquanto Nelson passara anos a fio levando pancada de todos os lados: do meio intelectual brasileiro, responsável por sua pecha de “reacionário”; do público de suas peças, ainda não acostumado com sua carga simbólica (o Teatro do Absurdo ainda demoraria alguns anos para chegar ao Brasil); e do governo militar, que o censurou muito. É quando, num rasgo de honestidade raríssimo em nossa literatura (sobre essa raridade, ver o ótimo A poeira da glória, de Martim Vasques da Cunha), chega ao ponto de confessar uma “canalhice”: havia experimentado uma pontinha de alegria quando Rosa morreu. É o tipo de coisa que muitos de nós não confessamos nem mesmo para Deus, mas Nelson usava a escrita também (e talvez sobretudo) para se expor. Mesmo quando descreve o mal alheio — nos outros, na cultura –, esse mal é apontado e denunciado não com a indignação do puro, mas com um espanto quase infantil de quem vê as coisas de ponta-cabeça. Com seus coloquialismos e seu característico estilo hiperbólico, ele tenta colocá-las de volta na posição certa — e por isso Gilberto Freyre o comparou a Chesterton em sua valorização do senso comum. Uma de suas frases geniais o corrobora: “Só os profetas enxergam o óbvio.” O quanto ele se veria pasmo em nossos dias, com tantos soi disant intelectuais negando os fatos e as realidades mais patentes! Exclamaria com ainda mais propriedade: “Hoje é muito difícil não ser canalha. Todas as pressões trabalham para o nosso aviltamento pessoal e coletivo.”
Minhas edições tanto de O óbvio ululante como de A cabra vadia, publicadas na década de 1990 pela Companhia das Letras, foram compilações feitas por Ruy Castro de artigos publicados no jornal O Globo entre novembro de 1967 e outubro de 1968. Estão em ordem cronológica e fazem um sentido brutal para nós. Ruy Castro pondera que “podem ser lidos hoje como tragicômicas profecias daquilo que o Brasil se tornaria nas décadas seguintes”. De fato, em todo o mundo, não só no Brasil, mudanças profundas de cosmovisão começaram a operar-se ao longo da década de 1960. Vou elencar alguns de seus elementos:
- Primeiro, a chamada “revolução sexual”, com a ideia aparentemente libertadora do “amor livre”, destruiu os limites saudáveis do sexo dentro do casamento. Nos anos 1950, as mocinhas de família esperavam até casar. Dos anos 1960 em diante, todos nós sabemos que mocinhas de família têm uma assim chamada “vida sexual” bem antes do casamento. Por toda parte, as mulheres passaram a usar menos roupa, comportando-se como objetos de desejo cada vez mais facilmente alcançáveis. E, bem na época em que todo mundo saudava o surgimento do biquíni como moderníssimo e “pra frente”, como se dizia, o Nelson escrevia: “Começamos a época da nudez sem amor, do nu de graça e, repito, sem o pretexto do amor. A nudez exclusiva para o amado deixou de existir.”
- A autoridade passou a ser contestada em todas as esferas, inclusive a familiar, enquanto se consolidava a exaltação da juventude e da rebeldia. E o Nelson, consternado, observava: “Há vários projetos do novo Brasil. Qual deles há de vingar, finalmente? Qual deles terá bastante vitalidade histórica? Há muita gente disposta a matar e a morrer pelo Brasil do ódio. Pode parecer que eu esteja exagerando. Mas os sintomas estão à nossa vista com apavorante nitidez. (…) Este povo está vivendo uma época de pouquíssimo amor. O ódio é mais promovido que marca de refrigerante. No ano passado, fui testemunha auditiva e ocular de duas rixas familiares. Em ambas as ocasiões, um filho berrou para o pai: ‘Te parto a cara!’ E só não se engalfinharam, à vista da mãe, das tias, dos cunhados, dos outros filhos e das visitas, porque nas duas vezes o velho capitulou. ‘Ficou por isso mesmo?’, perguntará o leitor. Não, não ficou por isso mesmo. Num dos episódios, o pai chamou o filho e deu-lhe um Galaxie. (…) Justificado, adulado pelos velhos, que faz o jovem? Nunca odiou tanto.”
- O materialismo ganhava as mentes como pano de fundo obrigatório entre os intelectuais, acabando com a “nostalgia da vida eterna”, como dizia o Nelson, que lamentava que até os padres (ele era católico) começassem a achar mais importante o ativismo político que a preocupação com a alma.
- A ideia de que o mundo se compõe de classes e cada pessoa representa fielmente o pensamento e as ambições de sua classe ganhava status de verdade incontestável. (Nesse sentido, é curioso que o próprio Karl Marx tenha sido um burguês que nunca trabalhou formalmente e vivia pedindo dinheiro a família e amigos, mas falasse com tranquilidade em nome dos trabalhadores.) Nelson detestava a impessoalidade, o coletivismo, as abstrações forçadas. Escreveu: “Ao ouvir falar em ‘o jovem’, respondi com a mais singela e casta boa-fé: ‘não conheço’. Realmente não conheço ‘o jovem’, como não conheço ‘o artista’, como não conheço ‘o judeu’. Foi a Bernard Shaw, parece, que perguntaram sobre a multidão. Uma pergunta idiota, mais ou menos assim: ‘Que é que o senhor acha da multidão? E ele retrucou: ‘Gosto ou desgosto de quem tem uma cara só’.” Essa crítica é impressionante quando hoje o pensamento politicamente correto é um pressuposto praticamente obrigatório para a aprovação intelectual e moral: antes de indivíduos, existe uma pressão para que as pessoas se vejam como “pobre”, “negro”, “mulher” ou “gay”, pulando para dentro de uma trincheira toda prontinha, com bandeiras já pré-fabricadas e sem pensar muito por conta própria. Um dos efeitos mais cruéis disso é a invenção da culpa coletiva: nunca foi tão fácil fugir da responsabilidade individual quando há toda uma construção ideológica pronta a justificar o criminoso por seu passado infeliz de opressão.
Não é difícil perceber que uma cosmovisão legitimamente cristã rejeita todos esses pontos. Segundo a Bíblia, as pessoas não cometem erros ou crimes porque pertencem a uma classe oprimida, mas sim porque se inclinaram a isso por sua consciência cauterizada. O reconhecimento dos próprios pecados, primeiro passo de todo novo convertido e prática constante do cristão verdadeiro, requer um senso de responsabilidade individual, que se agudiza ao longo do processo de santificação. Em vez disso, muitos criminosos sentem hoje uma imensa dificuldade para experimentar uma culpa razoável diante do malfeito, pois há a sua volta toda uma configuração social que os empurra para longe da verdade: a justificação da violência como uma reação válida do oprimido, a valorização dos instintos acima da autocontenção, o ódio às autoridades, a positivação da inveja. E, como a cereja do bolo, o materialismo: se Deus não é autoridade acima de todos, não há a quem prestar contas; não há julgamento final, não há uma moral objetiva e absoluta para o ser humano — e como disse Dostoievsky, que aliás era um dos romancistas preferidos do Nelson, “se Deus não existe, tudo é permitido”.
Aos poucos, a indignação rodrigueana contra esse estado de coisas se tornou minha também. Suas ideias de fato me ajudaram a aproximar-me do Deus bíblico. A cronologia o atesta: comecei a ler O óbvio ululante em 1994 e me converti no final de 1995. Como a grande maioria das pessoas de minha idade, na época em que tive meu primeiro contato com ele, eu era adepta daquele tipo de esquerdismo que se pega no ar e nos faz endossar uma configuração igual ou semelhante à que descrevi, ainda que nunca tenhamos parado para pensar nas implicações disso. Essa configuração foi grandemente confrontada. Nos dizeres do nosso teólogo mais afeito à arte, Francis Schaeffer, Deus utilizou essas obras para me “tirar o telhado”: enquanto eu lia o Nelson falando do amor, fazendo crítica cultural, argumentando contra os progressistas da época e defendendo valores antigos, Deus combatia pressupostos que, arraigados há muito, iam na contramão do pensamento bíblico, preparando o terreno do meu coração para se apresentar a mim.
Então, arte e moralidade podem andar juntas? Aqui temos o exemplo de um autor que moraliza sem entediar, sem colocar-se em um patamar superior, ao mesmo tempo em que cuida para que sua linguagem tenha identidade e alto padrão estético. Sim, arte e moralidade podem andar juntas, e esse é um desafio para nós, cristãos, no Brasil pós-moderno: confrontar a imoralidade — ou melhor, confrontar o pecado — com força, beleza e senso da humanidade em comum.
Nota: Artigo publicado originalmente no blog Literatura & Redenção. Reproduzido com permissão.
• Norma Braga é apaixonada por literatura. Cresceu lendo Monteiro Lobato, converteu-se lendo George Orwell e Nelson Rodrigues, e segue lendo Proust, Fitzgerald, Dostoievsky, Thomas Mann, Flannery O’Connor, C.S. Lewis e muitos outros.
Imagem ilustrativa: Photo by Juan Di Nella on Unsplash
 21 de junho de 2018
21 de junho de 2018- Visualizações: 3549
 comente!
comente!- +A
- -A
-
 compartilhar
compartilhar
QUE BOM QUE VOCÊ CHEGOU ATÉ AQUI.
Ultimato quer falar com você.
A cada dia, mais de dez mil usuários navegam pelo Portal Ultimato. Leem e compartilham gratuitamente dezenas de blogs e hotsites, além do acervo digital da revista Ultimato, centenas de estudos bíblicos, devocionais diárias de autores como John Stott, Eugene Peterson, C. S. Lewis, entre outros, além de artigos, notícias e serviços que são atualizados diariamente nas diferentes plataformas e redes sociais.
PARA CONTINUAR, precisamos do seu apoio. Compartilhe conosco um cafezinho.

Leia mais em Opinião
Opinião do leitor
Para comentar é necessário estar logado no site. Clique aqui para fazer o login ou o seu cadastro.
Ainda não há comentários sobre este texto. Seja o primeiro a comentar!
Escreva um artigo em resposta
Para escrever uma resposta é necessário estar cadastrado no site. Clique aqui para fazer o login ou seu cadastro.
Ainda não há artigos publicados na seção "Palavra do leitor" em resposta a este texto.
- + vendidos
- + vistos

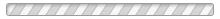


 (31)3611 8500
(31)3611 8500 (31)99437 0043
(31)99437 0043 Feliz Natal ou Boas Festas? Faz diferença?
Feliz Natal ou Boas Festas? Faz diferença? Um convite para professores e estudantes cristãos
Um convite para professores e estudantes cristãos A igreja brasileira está dormindo?
A igreja brasileira está dormindo? Ninguém escolhe ser refugiado ou nem sempre o que queremos dar é o que as pessoas precisam
Ninguém escolhe ser refugiado ou nem sempre o que queremos dar é o que as pessoas precisam






