Opinião
 17 de março de 2010
17 de março de 2010- Visualizações: 4215
 4 comentário(s)
4 comentário(s)- +A
- -A
-
 compartilhar
compartilhar
Armário de dor
Eugenio Petraconi
 Poderíamos pensar o longa “Guerra ao Terror” (“The Hurt Locker”, Estados Unidos, 2008/9), da diretora Kathrin Bigelow, partindo de vários pressupostos.
Poderíamos pensar o longa “Guerra ao Terror” (“The Hurt Locker”, Estados Unidos, 2008/9), da diretora Kathrin Bigelow, partindo de vários pressupostos.
Um crítico voltado para uma análise mais psicológica possivelmente trataria o filme como uma metáfora. Ou seja, veria no sargento William James (interpretado pelo o ator de TV Jeremy Renner) um protótipo da mentalidade da sociedade norte-americana, e seu vício como símbolo de um vício maior que abarcaria a todos os seus compatriotas. Tanto James, batizado com o nome de um importante expoente do pragmatismo – essa filosofia tão americana –, quanto os próprios estadunidenses, teriam na complacência (frente à abundância consumista) e no tédio da vida politicamente correta as fontes de sua própria fascinação pela violência; uma verdadeira neurose pela adrenalina. A frase que inicia o filme, do jornalista Chris Hedges, traria a chave para esta compreensão: “A agitação da guerra é um vício potente e geralmente letal, pois a guerra é uma droga”. E os americanos estariam, portanto, voltados para o combate como uma forma de calar dentro de si mesmos sua própria mediocridade, seu próprio vazio, digamos, existencial.
Já um crítico de orientação marxista possivelmente veria “Guerra ao Terror” por um viés mais ideológico. Os sargentos James e J. T. Sanborn e o especialista Owen Eldridge “navegam” por um Iraque dantesco como soldados da liberdade; não como uma equipe de lançadores de bombas, mas aquela que as desarma. A violência no filme parte dos outros, daqueles nativos com suas barbas crespas e sua língua enrolada. São os iraquianos os perpetradores da violência que o exército americano tenta apenas conter. No mínimo, expectadores imunes ao sofrimento de seus próprios conterrâneos, os iraquianos são não mais do que lagartos traiçoeiros à espreita, capazes das piores atrocidades, até mesmo de mutilar crianças presumivelmente inocentes. Diria o crítico esquerdista: “Guerra ao Terror” nada mais é do que um pedaço de propaganda norte-americana, dedicado à memória de “inocentes lutadores da justiça”, vitimados por monstros barbudos incapazes de viver em sociedade com o mundo e com sua própria gente. E os americanos se veriam obrigados a lutar contra tamanha vilania em sua justa jornada pela pacificação e harmonização de todo o mundo, conquistando povos dissidentes sob a égide de preceitos pseudocristãos arregimentados pelo fraternal império da bandeira estrelada.
Um crítico mais técnico, entretanto, possivelmente veria em “Guerra ao Terror” a vitória do cinema independente, libertário, em oposição à manipulação dos grandes estúdios de Hollywood, que tentam nos entorpecer a capacidade de reflexão, drogando-nos com fábulas medíocres, recheadas de efeitos especiais, mas sem consistência alguma. Sim, “Guerra ao Terror” seria o golpe de resistência de uma parcela da humanidade que se nega a permanecer refém dos grandes monopólios midiáticos, que manipulam as mentes na tentativa de tornar a todos meros consumidores letárgicos, incapazes de raciocinar e impelidos a aplaudir qualquer bobagem do naipe de “Avatar”. Com sua estética de documentário e sua busca por revelar o real, “Guerra ao Terror” seria o libelo frente à doutrinação do cinema de entretenimento, personificado em James Cameron e sua farsa 3D. E as pessoas deveriam, portanto, se alegrar com a vitória do mirrado Davi contra o tão espalhafatoso Golias, o que aponta para um futuro de mentes livres da dominação da cultura de massa e prontas para abraçar a diversidade. Que o Oscar contemple em breve também um primeiro diretor negro, um primeiro diretor do Terceiro-Mundo e um primeiro diretor com qualquer outra característica etc.
No entanto, convido os leitores a uma reflexão.
Certamente “Guerra ao Terror” traz vislumbres da psique americana e de sua fascinação pela violência. Mas, no ímpeto de escancarar tamanho fascínio, não incorreríamos no já rotineiro erro de banalizar a própria violência? Convenhamos, o sargento William James nada mais é do que um novo Capitão América, e o Iraque de Bigelow não deixa nada a desejar à demoníaca Alemanha nazista. Neste sentido, “Guerra ao Terror” não passa de uma historinha de super-herói.
Certamente este filme tenta passar uma mensagem ideológica. E realmente glorifica o esforço dos soldados americanos, mostrando os iraquianos como vítimas de si mesmos – chegando até a censurar sutilmente a tentativa de amizade entre povos tão díspares. Porém, no ímpeto de rechaçar a glorificação aos G. I. Joes, não incorreríamos no já rotineiro erro de glorificar as ações de seus opositores? A questão permanece: a quem daríamos razão neste sangrento conflito?
Certamente “Guerra ao Terror” demonstra que há outras possibilidades cinematográficas, e que o cinema não é refém de produções de meio bilhão de dólares e/ou avanços tecnológicos invejáveis. Mas, não seriam ambos tão somente fábulas cinematográficas? Guerra ao Terror” não seria um produto de ficção, apenas a opinião de alguém sobre um determinado tema, uma farsa do mesmo calibre de “Avatar”?
Questionamentos deste porte são realmente complexos e exigem uma reflexão bem mais apurada – o que este escritor não se propõe a fazer. Ademais, deve haver um grande número (centenas, senão milhares) de críticas que tratam os temas expostos com bastante propriedade. Existe, no entanto, uma lacuna a ser suprida: o que diria um crítico cristão a respeito de “Guerra ao Terror”? Como seria sua leitura do filme?
Mesmo impossibilitado de delinear uma abrangente crítica teológica, este calejado crítico, que é cristão, atreve-se a uma pequena opinião, a apontar algo que lhe cativou olhos e ouvidos.
Incapaz de salvar um angustiado pai de família iraquiano, cujo corpo havia sido envolto em explosivos, o sargento Sanborn (o geralmente coadjuvante Anthony Mackie) chora e fala de seu desejo de abandonar a guerra e finalmente ter um filho; em suas próprias palavras, ter alguém que se lembrasse dele, alguém que realmente fosse se importar. O ímpeto de Sanborn bem poderia ser traduzido como o desejo de buscar algo que fizesse dele uma pessoa, que conferisse a ele humanidade, que trouxesse sentido à sua vida. Vivendo na desolação do deserto iraquiano, o sargento percebe a necessidade de se importar com alguém, de cuidar de alguém, de deixar um legado. E qual certeza teria ele em relação a seu filhos? Quem poderia garantir a segurança, a preservação da vida e a felicidade deles? Mais do que isto, quem pode nos garantir que seremos amados e não, tão somente, esquecidos? Não seria ter o filho um risco maior do que desarmar morteiros no deserto?
Interessante perceber que “the hurt locker” nada mais é do que uma gíria que traz a ideia de um lugar de uma dor insuportável – uma expressão surgida no Vietnã como o lugar para onde vai alguém ferido por uma explosão.
E se não há guerra ao terror em “The Hurt Locker”, qual seria o sentido de tudo? Qual seria este lugar de dor insuportável no filme?
Para uns, talvez seja não ter ninguém com quem contar; ninguém que se importe. Já para outros, talvez seja ter este alguém, mas por medo de correr o risco de se doar por ele preferir se gastar em algo que lhe entorpeça a mente, em uma fuga que lhe ofereça uma pretensa sensação de prazer.
E seria demasiado pensar neste risco como algo bem mais insuportável para o sargento William James do que apenas outros 365 dias caçando explosivos nas ruínas iraquianas?
Lembrei-me da canção do pianista Keith Green: “Não há amor maior do que entregar a sua própria vida por alguém”.
O resto, na opinião deste simples crítico, é tão somente... outra ilusão.
Leia também
• A teologia de Avatar, Christian Gillis
• Eugenio Petraconi é jornalista e membro da Igreja Batista da Redenção, em Belo Horizonte, MG. www.petraconi.com
Siga-nos no Twitter!
 Poderíamos pensar o longa “Guerra ao Terror” (“The Hurt Locker”, Estados Unidos, 2008/9), da diretora Kathrin Bigelow, partindo de vários pressupostos.
Poderíamos pensar o longa “Guerra ao Terror” (“The Hurt Locker”, Estados Unidos, 2008/9), da diretora Kathrin Bigelow, partindo de vários pressupostos.Um crítico voltado para uma análise mais psicológica possivelmente trataria o filme como uma metáfora. Ou seja, veria no sargento William James (interpretado pelo o ator de TV Jeremy Renner) um protótipo da mentalidade da sociedade norte-americana, e seu vício como símbolo de um vício maior que abarcaria a todos os seus compatriotas. Tanto James, batizado com o nome de um importante expoente do pragmatismo – essa filosofia tão americana –, quanto os próprios estadunidenses, teriam na complacência (frente à abundância consumista) e no tédio da vida politicamente correta as fontes de sua própria fascinação pela violência; uma verdadeira neurose pela adrenalina. A frase que inicia o filme, do jornalista Chris Hedges, traria a chave para esta compreensão: “A agitação da guerra é um vício potente e geralmente letal, pois a guerra é uma droga”. E os americanos estariam, portanto, voltados para o combate como uma forma de calar dentro de si mesmos sua própria mediocridade, seu próprio vazio, digamos, existencial.
Já um crítico de orientação marxista possivelmente veria “Guerra ao Terror” por um viés mais ideológico. Os sargentos James e J. T. Sanborn e o especialista Owen Eldridge “navegam” por um Iraque dantesco como soldados da liberdade; não como uma equipe de lançadores de bombas, mas aquela que as desarma. A violência no filme parte dos outros, daqueles nativos com suas barbas crespas e sua língua enrolada. São os iraquianos os perpetradores da violência que o exército americano tenta apenas conter. No mínimo, expectadores imunes ao sofrimento de seus próprios conterrâneos, os iraquianos são não mais do que lagartos traiçoeiros à espreita, capazes das piores atrocidades, até mesmo de mutilar crianças presumivelmente inocentes. Diria o crítico esquerdista: “Guerra ao Terror” nada mais é do que um pedaço de propaganda norte-americana, dedicado à memória de “inocentes lutadores da justiça”, vitimados por monstros barbudos incapazes de viver em sociedade com o mundo e com sua própria gente. E os americanos se veriam obrigados a lutar contra tamanha vilania em sua justa jornada pela pacificação e harmonização de todo o mundo, conquistando povos dissidentes sob a égide de preceitos pseudocristãos arregimentados pelo fraternal império da bandeira estrelada.
Um crítico mais técnico, entretanto, possivelmente veria em “Guerra ao Terror” a vitória do cinema independente, libertário, em oposição à manipulação dos grandes estúdios de Hollywood, que tentam nos entorpecer a capacidade de reflexão, drogando-nos com fábulas medíocres, recheadas de efeitos especiais, mas sem consistência alguma. Sim, “Guerra ao Terror” seria o golpe de resistência de uma parcela da humanidade que se nega a permanecer refém dos grandes monopólios midiáticos, que manipulam as mentes na tentativa de tornar a todos meros consumidores letárgicos, incapazes de raciocinar e impelidos a aplaudir qualquer bobagem do naipe de “Avatar”. Com sua estética de documentário e sua busca por revelar o real, “Guerra ao Terror” seria o libelo frente à doutrinação do cinema de entretenimento, personificado em James Cameron e sua farsa 3D. E as pessoas deveriam, portanto, se alegrar com a vitória do mirrado Davi contra o tão espalhafatoso Golias, o que aponta para um futuro de mentes livres da dominação da cultura de massa e prontas para abraçar a diversidade. Que o Oscar contemple em breve também um primeiro diretor negro, um primeiro diretor do Terceiro-Mundo e um primeiro diretor com qualquer outra característica etc.
No entanto, convido os leitores a uma reflexão.
Certamente “Guerra ao Terror” traz vislumbres da psique americana e de sua fascinação pela violência. Mas, no ímpeto de escancarar tamanho fascínio, não incorreríamos no já rotineiro erro de banalizar a própria violência? Convenhamos, o sargento William James nada mais é do que um novo Capitão América, e o Iraque de Bigelow não deixa nada a desejar à demoníaca Alemanha nazista. Neste sentido, “Guerra ao Terror” não passa de uma historinha de super-herói.
Certamente este filme tenta passar uma mensagem ideológica. E realmente glorifica o esforço dos soldados americanos, mostrando os iraquianos como vítimas de si mesmos – chegando até a censurar sutilmente a tentativa de amizade entre povos tão díspares. Porém, no ímpeto de rechaçar a glorificação aos G. I. Joes, não incorreríamos no já rotineiro erro de glorificar as ações de seus opositores? A questão permanece: a quem daríamos razão neste sangrento conflito?
Certamente “Guerra ao Terror” demonstra que há outras possibilidades cinematográficas, e que o cinema não é refém de produções de meio bilhão de dólares e/ou avanços tecnológicos invejáveis. Mas, não seriam ambos tão somente fábulas cinematográficas? Guerra ao Terror” não seria um produto de ficção, apenas a opinião de alguém sobre um determinado tema, uma farsa do mesmo calibre de “Avatar”?
Questionamentos deste porte são realmente complexos e exigem uma reflexão bem mais apurada – o que este escritor não se propõe a fazer. Ademais, deve haver um grande número (centenas, senão milhares) de críticas que tratam os temas expostos com bastante propriedade. Existe, no entanto, uma lacuna a ser suprida: o que diria um crítico cristão a respeito de “Guerra ao Terror”? Como seria sua leitura do filme?
Mesmo impossibilitado de delinear uma abrangente crítica teológica, este calejado crítico, que é cristão, atreve-se a uma pequena opinião, a apontar algo que lhe cativou olhos e ouvidos.
Incapaz de salvar um angustiado pai de família iraquiano, cujo corpo havia sido envolto em explosivos, o sargento Sanborn (o geralmente coadjuvante Anthony Mackie) chora e fala de seu desejo de abandonar a guerra e finalmente ter um filho; em suas próprias palavras, ter alguém que se lembrasse dele, alguém que realmente fosse se importar. O ímpeto de Sanborn bem poderia ser traduzido como o desejo de buscar algo que fizesse dele uma pessoa, que conferisse a ele humanidade, que trouxesse sentido à sua vida. Vivendo na desolação do deserto iraquiano, o sargento percebe a necessidade de se importar com alguém, de cuidar de alguém, de deixar um legado. E qual certeza teria ele em relação a seu filhos? Quem poderia garantir a segurança, a preservação da vida e a felicidade deles? Mais do que isto, quem pode nos garantir que seremos amados e não, tão somente, esquecidos? Não seria ter o filho um risco maior do que desarmar morteiros no deserto?
Interessante perceber que “the hurt locker” nada mais é do que uma gíria que traz a ideia de um lugar de uma dor insuportável – uma expressão surgida no Vietnã como o lugar para onde vai alguém ferido por uma explosão.
E se não há guerra ao terror em “The Hurt Locker”, qual seria o sentido de tudo? Qual seria este lugar de dor insuportável no filme?
Para uns, talvez seja não ter ninguém com quem contar; ninguém que se importe. Já para outros, talvez seja ter este alguém, mas por medo de correr o risco de se doar por ele preferir se gastar em algo que lhe entorpeça a mente, em uma fuga que lhe ofereça uma pretensa sensação de prazer.
E seria demasiado pensar neste risco como algo bem mais insuportável para o sargento William James do que apenas outros 365 dias caçando explosivos nas ruínas iraquianas?
Lembrei-me da canção do pianista Keith Green: “Não há amor maior do que entregar a sua própria vida por alguém”.
O resto, na opinião deste simples crítico, é tão somente... outra ilusão.
Leia também
• A teologia de Avatar, Christian Gillis
• Eugenio Petraconi é jornalista e membro da Igreja Batista da Redenção, em Belo Horizonte, MG. www.petraconi.com
Siga-nos no Twitter!
 17 de março de 2010
17 de março de 2010- Visualizações: 4215
 4 comentário(s)
4 comentário(s)- +A
- -A
-
 compartilhar
compartilhar
QUE BOM QUE VOCÊ CHEGOU ATÉ AQUI.
Ultimato quer falar com você.
A cada dia, mais de dez mil usuários navegam pelo Portal Ultimato. Leem e compartilham gratuitamente dezenas de blogs e hotsites, além do acervo digital da revista Ultimato, centenas de estudos bíblicos, devocionais diárias de autores como John Stott, Eugene Peterson, C. S. Lewis, entre outros, além de artigos, notícias e serviços que são atualizados diariamente nas diferentes plataformas e redes sociais.
PARA CONTINUAR, precisamos do seu apoio. Compartilhe conosco um cafezinho.

Leia mais em Opinião
Opinião do leitor
Para comentar é necessário estar logado no site. Clique aqui para fazer o login ou o seu cadastro.
Escreva um artigo em resposta
Para escrever uma resposta é necessário estar cadastrado no site. Clique aqui para fazer o login ou seu cadastro.
Ainda não há artigos publicados na seção "Palavra do leitor" em resposta a este texto.
- + vendidos
- + vistos
Revista Ultimato
Oramos para que Deus faça aquilo que so Deus pode fazer.
Ricardo Barbosa

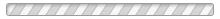


 (31)3611 8500
(31)3611 8500 (31)99437 0043
(31)99437 0043 C. S. Lewis em outros mundos
C. S. Lewis em outros mundos O espantalho
O espantalho Um enigma para Nicodemos
Um enigma para Nicodemos "Use e jogue fora": conspiração contra o jovem e o velho
"Use e jogue fora": conspiração contra o jovem e o velho 






